Novos Melhores Álbuns de 2017
[tps_header]
Na linha das melhores tradições da MHD, damos aqui a conhecer a nossa seleção dos melhores álbuns de 2107, conforme vão sendo editados ao longo do ano.
Uma visão pessoal, de espectro largo e nem sempre consensual, mas sempre orientada para o que consideramos de mais representativo entre a melhor música popular enquanto arte. Nem sempre a mais comercial, mas a que mais nos mobiliza e acreditamos que a muitos dos nossos leitores.
“A música pode mudar o mundo porque pode mudar as pessoas” Bono
[/tps_header]
Julie Byrne, Not Even Happiness (Ba Da Bing, 13 Janeiro 2017)
“Follow my voice”, diz Julie Byrne no começo de um dos melhores álbuns de 2017, para nos guiar até ao coração deste artefacto delicado. É fácil abstrair-se dos versos, deixando-se hipnotizar pelo fluir dos dedilhados folk, cheios de reverberação, num fundo atmosférico onde se ouvem, subtil e ocasionalmente, uma flauta, um piano, sintetizadores, violinos, amostras sonoras de ondas na praia. Mas esta música nunca se torna etérea, porque as notas da guitarra, muitas vezes eléctrica, destacam-se claras e decididas. Antes evoca, com o seu uso do eco e a voz calorosa de contralto de Byrne, a imensidão aberta das paisagens americanas percorridas em palavra.

Tudo na música de Byrne emerge da sua vida pessoal. O pai cantava em casamentos e, quando deixou de conseguir tocar guitarra por causa de uma esclerose múltipla, a filha aprendeu a tocar o instrumento como “uma oferta a ele”, disse à Pitchfork. Abandonando a faculdade, onde ingressara para estudar Engenharia Ambiental, vagueou por toda a América, até desembocar em Nova Iorque, onde trabalhou como guarda-florestal em Central Park. Conseguindo descrever com minúcia biológica os organismos do Museu de História Natural, Byrne cita de cor, ao mesmo tempo, trechos da poesia de Frank O’Hara, Adrienne Rich ou Leonard Cohen. Uma devoção ao silêncio e à solidão acompanhada da natureza exprime-se poeticamente em detalhes dispersos por meditações introspectivas sobre o sentido do eu: “I have dragged my life across the country / and wondered if travel led me anywhere / There’s a passion in me, it just does not long for those things”.
Em luta com esta itinerância está a possibilidade de encontrar a permanência sob o olhar da pessoa amada. O amor traz ao de cima a dificuldade de “speak out from your depth”, o desejo de que “might our fire burn long, might I love you more”, a necessidade de pedir perdão “when I was nowhere close to forgiving myself”. E, mesmo se este amor jaz no passado, as últimas palavras do disco comportam uma interrogação eterna: “Shall I be ever near the edge of your mystery”.
JULIE BYRNE, NOT EVEN HAPPINESS | AUDIO OFICIAL
Maria Pacheco de Amorim
Vagabon, Infinite Worlds (Father/Daughter Records, 24 Fevereiro 2017)
Afianço-vos que assim que carregarem no botão de arranque deste vídeo ficarão surpreendidos. Parem de ler e façam-no. Escutaram? Esperavam, aposto, uma voz R&B, só para descobrir qualquer coisa na órbita de Sharon Van Etten ou Daughter, sob um fundo sonoro que evoca a comunidade nova-iorquina de rock independente onde se movem Frankie Cosmos, Mitski, Crying e outros. Mas esta surpresa não deveria acontecer. Como lembra Laetitia Tamko, conhecida por Vagabon, a origem do rock independente é, ultimamente, africana. Ela não tem por que recusar nada da imensa tradição da música pop, entrincheirando-se nas categorias de soul, R&B e hip-hop.

Ainda assim, a abordagem de Tamko ao género revela uma personalidade única e irrepetível, na sua fragilidade assertiva ou, como diz em “Cleaning House”, “not intimidating yet sure”. O fluir lento mas estável da sua voz de tenor, onde a inocência, a melancolia e a exasperação se sucedem discretas, é a âncora segura que atravessa toda a mobilidade da textura instrumental, que varia entre os dedilhados, a ressoar solitariamente, da guitarra eléctrica ou acústica e as entradas repentinas da secção rítmica, onde o bombo se ouve poderoso e o baixo propulsivo entra em distorção.
Sobre esta sonoridade atmosférica, pontuada de explosões punk, flutuam meditações sobre o desconforto de nunca pertencer (“I feel so small (…) on the bus, where everybody is tall”), de se sentir finita, sempre aquém (“I don’t have it in me / to give everyone everything) e a procura de um lar (“I will make a home that is my own”). Tamko veio dos Camarões aos 14 anos e, embora formada em Engenharia pelo City College of New York, sempre desejou ser cantora e compositora multi-instrumentista. Conhece bem, por isso, as agruras do vaguear e deste nomadismo nasce uma exigência de comunidade, não necessariamente física. Como disse à Nylon, “people find home in other people”.
VAGABON, INFINITE WORLDS | VIDEO OFICIAL
Maria Pacheco de Amorim
Jay Som, Everybody Works (Polyvinyl, 10 Março 2017)
Melina Duterte está-se a divertir e não é só no seu novo álbum, Everybody Works. A cantora e compositora que assina como Jay Som começou a carreira em 2015, quando, cheia de hesitações, lançou na sua página Bandcamp, sob o muito pouco título de “Untitled”, nove canções “acabadas e inacabadas”, conjunto que, tendo chamado a atenção de muitos, acabou por ser regravado e lançado em 2016, como Turn Into, pela Polyvinyl.

Esta nova série de canções, gravada embora igualmente no seu quarto, há muito transformado em estúdio, desafia quaisquer distinções entre baixa e alta definição. Mas não é apenas a sofisticada produção que revela a evolução musical de Duterte. As fronteiras do dream pop são aqui esbatidas e alargadas por uma recreativa mobilidade entre géneros, desde o pós-punk etéreo de “Remain” ou o shoegaze, quase noise-rock, de “1 Billion Dogs” e “Take it” até às incursões no funk, com os ritmos caribenhos tocados pela guitarra, que são “One More Time, Please” e “Babybee”.
Esta filha de filipinos, tendo praticado trompete durante nove anos e estudado composição e produção musical na faculdade, exprime aqui com confiança todas as suas influências, desde Phil Elverum, My Bloody Valentine e Sigur Rós até Steely Dan e Carly Rae Jepsen. Esta colagem sonora é unificada pela sua voz muito feminina. Suave, ensurdecida, entre a monotonia e os laivos melódicos, oscila entre a força (“If I leave you alone / When you don’t feel right / I know we’ll sink for sure”) e a docilidade (“I’ll be the one who sticks around / And I just want you to lead me”). Uma complexidade afectiva que reverbera no tema final do disco, quando, sobre um instrumental nostálgico e hipnótico, vai repetindo esperançosamente: “I’ll be right on time / Open blinds for light / Won’t forget to climb”.
JAY SOM, EVERYBODY WORKS | VIDEO OFICIAL
Maria Pacheco de Amorim
Mount Eerie, A Crow Looked at Me (P. W. Elverum & Sun, 24 Março 2017)
O que para muitos será o melhor álbum de 2017 é um disco que poucos conseguirão ouvir mais do que duas ou três vezes. Na fronteira entre a música e a literatura, a arte e a vida, não se sabe bem o que fazer com ele. Apenas que não se pode fazer mais nada enquanto se o ouve, porque “death is real” e a sua história impõe-se.

Phil Elverum, o homem por detrás de Mount Eerie e The Microphones, perdeu a mulher, Geneviève Castrée, com quem estava casado há treze anos, em Julho de 2016, poucos meses depois de nascer a única filha do casal. Embora Elverum diga que “when death enters the house all poetry is dumb”, o que acabou por criar foi arte. Sobre uma textura esparsa de guitarra, algum piano e só raramente ruído branco, gravada no quarto dela, ouvem-se, mais recitados do que cantados, os fragmentos narrativos que o autor alinhavara durante a doença e depois da morte da mulher. As minúcias do cancro, a perplexidade da ausência, o desconforto gerado na mercearia à sua entrada, os lugares inóspitos onde estivera com ela e a interrogação existencial misturam-se sem hierarquias ou outra ordem que não a do quotidiano da vida que passa e continua.
Apesar de ser, nas palavras de Elverum à Pitchfork, “barely music”, o instrumental cria um genuíno sentimento de nostalgia, de espera tensa e dolorosa, vivida no interior da casa, cuja intimidade contrasta com as inúmeras referências à paisagem natural que a rodeia. No centro deste cosmos, assistimos à resistência ao facto bruto da morte (“You do belong here, I reject nature, I disagree”), numa obra poética em que vibram, em carne viva, todas as fibras do ser. “The loss in my life is a chasm (…) I don’t want to close it,” diz ele. E, num soluço, repete: “death is real”.
MOUNT EERIE, A CROW LOOKED AT ME | AUDIO OFICIAL
Maria Pacheco de Amorim
Jane Birkin – Birkin/Gainsbourg: Le Symphonique (Parlophone, 26 abril 2017)
De todos os músicos desaparecidos aquele de que os franceses mais sentem a falta é de Serge Gainsbourg. Quem o disse foi François Mitterrand. E quem o relembra, como mais ninguém, é a sua eterna musa maior, Jane Birkin, neste monumental novo álbum Birkin – Gainsbourg – Le Symphonique.

Gravado no Japão, com um naipe orquestral de 90 músicos e arranjos do famoso compositor e pianista japonês Nobuyuki Nakajima, este album é um momento maior da tourné mundial que trará também Jane Birkin à nossa Gulbenkian dia 14 julho, uma data a fixar e seguramente a recordar. Todos os clássicos desta união celeste abençoada por Baco, são transportados para orquestra em tons jazísticos e de café concerto, sem perder uma gota da beleza mordaz e ousada que sempre caracterizou a obra do genial autor, o qual cedo reconheceu na sua companheira e colaboradora a sua também melhor intérprete.
Aos 70 aos, Birkin com a sua voz tão frágil quanto sensual, mantém à flor da pele a emoção e intimidade de cada melodia e lírica, revelando em boa medida por que razão, mais que um alter ego, foi mais um alter tudo para Serge. Um projecto corajoso, um concerto fascinante e uma mais que merecida e bela homenagem.
JANE BIRKIN – BIRKIN GAINSBOURG : LE SYMPHONIQUE | VIDEO OFICIAL
Rui Ribeiro
Algiers, The Underside of Power (Matador, 23 Junho 2017)
Apocalíptico, litúrgico, ominoso. O segundo álbum da banda de gospel industrial Algiers, com sede em Londres e Nova Iorque, não foi propositadamente composto para reflectir os nossos tempos politicamente conturbados mas torna-se difícil, para os próprios autores inclusive, não referir o Brexit e a eleição de Donald Trump em conversas sobre o disco. Ainda assim, este é bem mais abstracto e lato nas suas intenções.
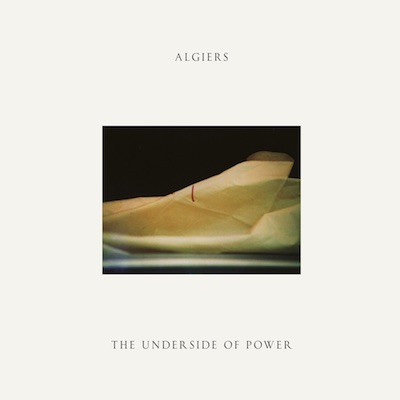
O que vem ao de cima, irrompendo por todas as “fracturas da cultura” (“Cleveland”), é uma crítica profunda ao poder e aos seus crimes, deixados impunes. A voz soul de Franklin Fisher, capaz de percorrer um largo espectro emotivo, emerge profética, tanto no grito melódico como na linguagem bíblica, falando por “all the prophets and the powerless”, para lembrar a justiça que um dia será feita: “You’re there and waiting at the Right Hand”. O pós-punk industrial das guitarras é orquestrado, cinematicamente, com violinos em ascese, sintetizadores, vozes corais e palmas, mas também amostras sonoras de respirações ofegantes, gemidos, grunhidos de animais e sirenes. A sobreposição entre os crimes antigos cometidos contra o povo afro-americano, relatados nos versos, e os sons industriais urbanos de um instrumental sempre na iminência de se tornar caótico resulta estranhamente totalizante.
O disco seria monocórdico, cansativamente melodramático se não fosse pela modulação introduzida por algumas das canções, que interrompem o drama político com a expressão de tensões pessoais e lhe garantem um lugar entre os melhores álbuns de 2017. Em “Mme Rieux”, ao som do piano, ouvimos que “her voice begs for comfort”. O clamor pela revolução e a certeza da sua eficácia são corroídos, no final, pela confissão de que “I know how to die / I don’t know how to forgive”. E a tragédia que parece impender sobre as nossas cabeças é ironizada, aligeirada pelo ritmo funk dançável que atravessa todo o disco, recordando-nos que, enquanto há movimento, há vida.
ALGIERS, THE UNDERSIDE OF POWER | VIDEO OFICIAL
Maria Pacheco de Amorim
Laurel Halo, Dust (Hyperdub, 23 Junho 2017)
Isto é música de dança que se boicota a si mesma. Não obstante os múltiplos sons que aludem à cena techno de Detroit, estes surgem num contexto heterogéneo de montagem de detritos sonoros, polirritmia e poesia concreta. Uma compacta colagem de amostras sonoras é sustentada por motivos melódicos breves e percussivos, que vão aparecendo e desaparecendo, interrompendo-se e substituindo-se uns aos outros, sobrepondo-se aos próprios ecos, o seu andamento subtilmente alterado. E, embora orgânico e inorgânico sejam deformados, estilhaçados e reorganizados até fluírem entre si, a personalidade da artista nunca é obliterada, permanecendo memorável na sua contínua esquivança.

Halo plasma ruído urbano e momentos da arte pop, desde música do mundo ao cinema noir e de ficção científica, num disco que descreveu como conversacional e consolador. Disso é evidência o ritmo acelerado e o humor absurdo das faixas mais dançáveis “Jelly” e “Moontalk”. Mas não falta tensão num álbum onde melodias minimalistas se estendem sem nunca se resolver, frases descoladas do quotidiano ecoam soturnas sobre um fundo de jazz livre em “Who Won?” e a voz melancólica de Halo (acusando a influência de Sade, mas soando mais distante e desprendida) repete insistentemente “do you ever happen?”.
A música electrónica experimental nunca é fácil, mas Halo integra, com controlado equilíbrio, os elementos atonais numa base melódica variada. Manipulando, sem abandonar, a estrutura pop, cria um discreto disco de vanguarda que está entre os melhores álbuns de 2017. Mesmo se é pouco provável que alguma das faixas abra a pista, vale a pena ouvir este disco só para descobrir porquê fazer música de dança ao som da qual ninguém consegue dançar.
LAUREL HALO, DUST | VIDEO OFICIAL
Maria Pacheco de Amorim
Jlin, Black Origami (Planet Mu, 19 Maio 2017)
Quais as probabilidades de uma operária da indústria de aço de Gary, Indiana, com o curso de Engenharia Civil deixado a meio, lançar um dos melhores álbuns de 2017? Poucas, a menos que tais desvantagens trabalhem a seu favor. A vizinhança da cena house de Chicago e de uma das suas mais recentes variantes, o footwork, bem como o talento para a matemática permitiram a Jerrilyn Patton tornar-se uma das melhores actuais produtoras de música electrónica futurista.

Os tempos acelerados, ao ritmo dos quais trabalham virtuosamente os pés, e o espírito militar, por originado em batalhas de rua, da música de RP Boo e DJ Rashad ainda se fazem sentir neste novo álbum de Jlin. “Holy Child”, com as suas complexas mudanças de ritmo e amostras vocais melódicas de cantoras folk do Báltico, pretende ser um tributo explícito a este último, desaparecido em 2014. Ainda assim, a sonoridade marcada pela ausência de melodia, por uma tensa e matemática exploração da polirritmia e a alusão a vários tipos de música do mundo, particularmente indiana, distanciam este disco da dança, tornando-o mais cinemático e expressivo.
Quando, anos atrás, Jlin apresentou à mãe a sua primeira faixa, baseada numa amostra vocal da cantora soul Teena Marie, esta apenas lhe disse: “Sei a que soa a Teena Marie. Mas a que soas tu?” Inicialmente devastada, Jlin aprendeu a não contar com amostras sonoras mas a gerar os próprios sons, encontrando a sua identidade. Basta ouvir este disco uma vez para perceber que se pode não só permanecer humano por detrás do físico e digital, como fazê-lo de forma distinta e pessoal. Já para que lhe chamemos música, talvez demore mais tempo…
JLIN, BLACK ORIGAMI | VIDEO OFICIAL
Maria Pacheco de Amorim
Broken Social Scene, Hug of Thunder (Arts & Crafts, 7 Julho 2017)
Os BSS estão de volta e trazem consigo um dos melhores álbuns de 2017. O colectivo canadiano – cujo disco You Forgot It in People, um clássico da década de 2000, continua a guardar um lugar especial na memória de muitos – é conhecido por albergar até cerca de 19 músicos vindos de bandas como Metric, Do May Say Think ou Feist. Passou muito tempo desde a última vez que os ouvimos, mas tal hiato parece ter sido benéfico, porque os BSS soam revigorados neste seu Hug of Thunder.

Após uma breve introdução instrumental, o disco atinge logo o cume com o hínico “Halfway Home”, cujos acordes maiores e crescendos instrumentais anunciam de imediato o lado explosivamente positivo deste reencontro. Uma angular, ziguezagueante linha de guitarra introduz a voz rouca e esparsa de Emily Haines em “Protest Song”, que, arrastando-nos em versos cantáveis, nos faz perceber o quanto sentíamos a sua falta. Mas o colectivo liderado por Kevin Drew e Brendan Canning nunca foi de fazer pop e, ainda nestas canções, a sua estrutura pouco usual, as linhas das guitarras a soar contra as melodias vocais ou a adiar os refrões antémicos antecipam já o lado mais melancólico do disco.
Em “Hug of Thunder”, Feist martela suavemente cada sílaba do aguilhão, para nós insuportável, de “that hunger / supersize we found inside” e, noutro lado, Drew lamenta que, no nosso mundo, tudo tenha a ver com os dedos e não os olhos. Mas, apesar de a sua voz gritar estrangulada, no final, que “everybody quit”, os BSS não desistiram. De facto, não pode haver desespero onde um álbum assim nos é oferecido.
Looking at the general state state of the world right now, we knew that putting our unified friendship out there was a great protest that we could do. (Kevin Drew, Pitchfork)
BROKEN SOCIAL SCENE, HUG OF THUNDER | AUDIO OFICIAL
Maria Pacheco de Amorim
Vince Staples, Big Fish Theory (Def Jam / Blacksmith, 23 Junho 2017)
Vince Staples é, junto com Kendrick Lamar, uma das vozes emblemáticas do hip-hop recente da costa oeste. O rapper de Long Beach chega com um dos melhores álbuns de 2017, Big Fish Theory, um longo e irónico comentário ao sucesso alcançado desde os tempos de delinquência juvenil como membro dos Crips até à actual posição de músico famoso. Neste álbum não faltam tiradas satíricas à ostentação, esbanjamento e jactância da cultura hip-hop, mas nem por isso Staples abandona o essencial da mesma, dando largas à sua ira pela crucifixão diária do povo negro e pelo estado da política americana contemporânea.
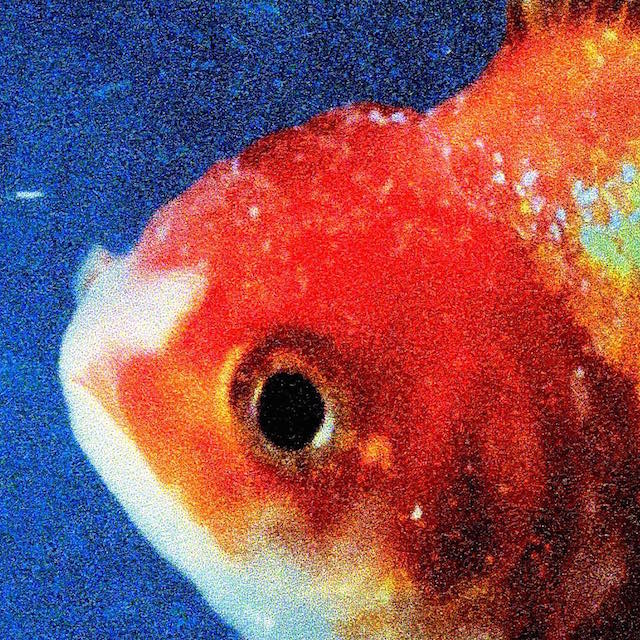
Contrariamente à sonoridade lenta, dissonante, pouco melódica que caracterizava o anterior LP, Summertime ’06, em Big Fish Theory, Vince Staples acelera os tempos e cria, com os produtores de que se rodeia, um som de pista de dança, baseado no house e techno de Detroit. Justin Vernon (Bon Iver), SOPHIE, Flumes, Jimmy Edgar e GTA são alguns dos seus colaboradores, para além de Zack Sekoff, presença constante na L.A. Beat Scene e responsável pelo som de cinco dos temas. Estes beats velozes colocam um desafio à sua cadência, prova que o rapper enfrenta e vence gloriosamente.
No entanto, a sonoridade disco do álbum resulta pouco festiva, tornando-se mesmo sardónica, quando alinhada com as rimas, que ora repetem mecanicamente os comportamentos de uma vida de dissipação até exporem o seu vazio, ora captam os detalhes sórdidos que desconstroem a sua aparência glamorosa. No centro, está o fio de desamor, tédio e isolamento que atravessa o quotidiano do estrelato: “Propaganda, pan press the camera / Please, don’t look at me in my face / Everybody might see my pain”.
VINCE STAPLES, BIG FISH THEORY | VIDEO OFICIAL
Maria Pacheco de Amorim
Brand New, Science Fiction (Procrastinate! Music Traitors, 17 Agosto 2017)
Já ninguém acreditava, mas ei-lo: o quinto LP dos Brand New. Convertido em matéria lendária capaz de fazer mais pelo estatuto mítico da banda do que o poderia ter feito o digno sucessor de The Devil and God are Raging Inside Me (2006) que Daisy (2009) nunca foi, Science Fiction chega mesmo a tempo de integrar a nossa lista dos Melhores Álbuns de 2017. Porque esta nova colecção de canções, que nos revela uma versão mais confiante e meditativa da banda, justificou bem a longa demora e as expectativas desmedidas.

A sua identidade pós-hardcore continua distintamente presente. Mas sente-se um domínio e contenção maiores e uma exploração dos sons da década de 90 feita de alusões vagas, difíceis de rastrear, agora mais à laia de retorno deliberado do que herança instintiva, desde “Can’t Get it Out”, o mais próximo que os Brand New alguma vez estiveram dos Pixies, até à dinâmica quiet/loud desenvolvida de inúmeros modos, passando pelas inflexões de alt-country. Mérito do guitarrista Vincent Accardi, arquitecto sonoro da banda e autor das texturas imaginativas, solos progressivos, dedilhados íntimos e refrões melódicos que caracterizam o som expansivo deste álbum.
E, contudo, o centro emotivo do disco permanece a voz e as letras de Jesse Lacey. A luta contra a depressão de anos provocada pelo drama da criatividade e fragmentação da pessoa, a descoberta da paz na família, vista como inseparável do eu, a sempre omnipresente sombra do cristianismo são descritas na primeira metade do disco, só para serem projectadas numa visão surrealista da América e mundo actuais, desenvolvida na segunda parte. A linguagem permanece a sua, mas este já não é o adolescente angustiado de há dez anos. Na génese de uma narrativa que se desenrola entre o íntimo e o cósmico, está o homem adulto que, falando consigo próprio, é a nós que se dirige. Como poderemos não o ouvir, quando canta assim?
BRAND NEW, SCIENCE FICTION | AUDIO OFICIAL
Maria Pacheco de Amorim
Grizzly Bear, Painted Ruins (Columbia, 18 Agosto 2017)
Numa época alarmante como a atual, bem precisamos de bons exemplos onde a democracia resulta, mesmo quando falamos da vida duma banda. Importa lembrar que os Grizzly Bear nasceram dum projecto a solo de Edward Droste (vocalista), o qual se foi descentralizando à medida que cresceu, com os riscos inerentes à adição de fortes personalidades, tanto criativas como pelos projetos a solo que mantêm, como o grande Christopher Bear (percussão), o multi-instrumentista e talentoso produtor de serviço Chris Taylor e ainda (como se fosse preciso?), Daniel Rosen, outro vocalista de eleição.

E decorridos cinco anos sobre o belo Shields, somos chegados ao quinto álbum num crescendo de criatividade, com composições arrojadas entre um eminente caos e a mais bela das harmonias vocais coletivas, a sua eterna e inconfundível marca de água. Onde muitos optariam pelas Ed songs, alternando com as Dan songs, os Grizzly Bear conseguem o pleno democrático, bem patente pela sua firme determinação em se apresentarem em palco sempre alinhados, sem qualquer primeiro plano, e em que todos contribuem em igual medida por objetivos comuns, embora com origens próprias. Respira-se modernidade, multi-influenciada e experimental até, mas onde impera o rigor e sobretudo a palavra harmonia.
Às habituais guitarras, mudanças súbitas de tempo e vozes que reconhecemos ao primeiro acorde, juntam-se agora também alguns loops e samplers, alternando com finos teclados e até harpas, e por vezes percussões próprias duma jam session jazística, em apoio a líricas vagas e ambíguas refletindo talvez vidas mais preenchidas, pós casamentos, separações e paternidades próprias dos “trintas”, resultando numa tonalidade aparentemente mais contemplativa, sem nunca perderem a consistência, o vigor, grande sentido de ritmo e a beleza harmónica. “Mourning Sound” sugeria um balanço triste e saudosista, mas emerge como um hino indie-pop que se entranha delícia e perigosamente dias a fio. Este é o rock de que gostamos e que nos faz vibrar da primeira à última faixa e, contrariamente ao que parece estar acontecer com os Arcade Fire, Painted Ruins é mais uma bela demonstração da viabilidade em evoluir criativamente, sem perder energia ou os traços de marca, mesmo quando se chega ao fatídico e sempre difícil quinto álbum.
Painted Ruins era um dos álbuns mais desejados deste ano, e não desilude, sendo para já um dos candidatos a melhor do ano.
Rui Ribeiro
Kendrick Lamar, DAMN. (Interscope / Top Dawg Entertainment, 14 Abril 2017)
“You have lost some something. You’ve lost… your life”. Disparo de uma bala. É com esta hipótese vertiginosa que Kendrick Lamar se confronta em DAMN., os títulos de algumas canções a nomearem os seus tentáculos mais potentes: a vida nos guetos de Compton, o seu “ELEMENT”; aqueles “PRIDE” e “LUST” em que a recente vida de sucesso arrisca engoli-lo; os estados de ânimo, o “FEEL” e “FEAR” quotidianos, que distorcem a percepção da realidade, afundando-o no desânimo e na sensação de abandono e solidão.

Que a luta não é inglória, contudo, garante-o uma história de laços comunitários que lhe confere uma identidade e a possibilidade de decidir, em cada instante, a partir de dentro da própria “wickedness” e “weakness”, se viver ou morrer. O “DNA” é uma sua e própria complexa história de vida, desenrolada ao longo de catorze faixas. Mas não elimina a incidência de “GOD” e das escolhas livres do pai (e dele), “DUCKWORTH”, capazes de divergir a bala que uma visão trágica do cosmos inevitavelmente lhe destinava. Por isso, no final, tudo se joga naquilo a que damos a nossa “LOYALTY”.
A produção neste álbum terá talvez causado estranheza àqueles a quem o jazz livre de To Pimp a Butterfly (2015) prometia outra coisa. Ainda assim, o recurso a uma sonoridade soul e R&B, mais convencional, parece adequar-se ao intimismo da temática do novo disco, que poderíamos descrever como mais moral do que político. Numa entrevista a Zane Lowe, Lamar explicitou o que já sugerira em “DUCKWORTH”, quando faz Bekon cantar que “It was always me vs the world / until I found it’s me vs me”.
To Pimp a Butterfly would be the idea of changing the world (…). DAMN would be the idea I can’t change the world until I change myself.
O que não significa que não haja lugar para toda a força de batidas e amostras sonoras reminiscentes da agressiva herança política de grupos como NWA (de Compton, precisamente) e de uma cadência e teatralidade aperfeiçoadas aqui até à mais fluida e fluente naturalidade, a cuspir furiosamente uma média de sílabas por segundo inigualada (sobretudo na poesia) por qualquer rapper actual. Ouvir “DNA” de Lamar é sempre e ainda ouvir o DNA de Lamar.
KENDRICK LAMAR, DAMN. | VIDEO OFICIAL
Maria Pacheco de Amorim
LCD Soundsystem, American Dream (Columbia / DFA, 1 Setembro 2017)
Quando em 2011 assistimos ao findar dos LCD Soundsystem, num grandioso concerto de despedida em Madison Square Garden, após três discos aclamados, incluindo o clássico Sound of Silver (2007), nunca pensámos que regressassem com um dos melhores álbuns de 2017. Mas ao ver Shut Up and Play the Hits (2012), onde se documenta a sentença de morte da banda por James Murphy, torna-se difícil acreditar em tal fim. A relevância das canções, a imensidão do público e dos amigos, o tom dubitativo das razões dadas, as lágrimas de Murphy, tudo sugere uma vida que não era sua para que acabasse com ela.

Tanto não era que ei-la de novo entre nós e, com ela, American Dream. É inconfundível a filigrana parodística de referências ao passado musical. O disco vai viajando entre o Remain in Light dos Talking Heads, a malha de “I Melt With You” dos Modern English, a guitarra de Keith Levene (PIL), as agressivas notas de baixo dos sintetizadores de John Foxx e dos Human League, até chegar à Berlim de David Bowie. Já inesperada é a atmosfera meditativa, a sombra que a fragilidade da vida projecta sobre a pista de dança, agora que o vocalista tem mulher e filho à sua responsabilidade e viu desaparecer Bowie, a quem tinha por “a friend and a father”.
É verdade que Murphy já chegou velho ao mundo do rock e como velho se construiu na sua música, fintando o inevitável ridículo ao mesmo tempo que encontrava a sua marca distintiva. Por ser velho retirou-se do rock e da comédia em que se tornara exímio:
I was 38 years old and I said I’m going to make a record. Then I blinked and I was 41. I don’t have any kids, and I want to have kids, I want to have a life. I blink twice more and I’m 50.
Mas só agora soa sinceramente velho. Descobriu que a música está nele, não é dele. Que a amizade que é a banda possui-o, não a possui ele. E que à cultura da noite e do agora ainda tem alguma coisa a dizer: “So you kiss and you clutch but you can’t fight that feeling / that your one true love is just awaiting your big meeting.”
LCD SOUNDSYSTEM, AMERICAN DREAM | AUDIO OFICIAL
Maria Pacheco de Amorim
Fleet Foxes, Crack-Up (Nonesuch, 16 Junho 2017)
Um perfil sempre discreto, uma saída de que só nos demos conta porque nunca mais ouvimos falar deles e uma ausência de seis anos justificariam seguramente uma nota biográfica, não fora os Fleet Foxes dispensarem quaisquer apresentações. Evidência disso é a quantidade de fãs que a banda de Robin Pecknold foi conquistando no entretanto, a ponto de se tornarem mais uma razão para o seu regresso. Bem feliz, porque Crack-Up não só é um dos melhores álbuns de 2017 como é o seu melhor disco.

Sentindo-se deprimido e unidimensional a seguir ao segundo LP, sem entrever novidades se continuasse por essa estrada adiante, Pecknold carregou no botão de pausa e, mudando-se para Nova Iorque, inscreveu-se em humanidades na Universidade de Columbia. O título do novo álbum é tirado de um famoso ensaio de F. Scott Fitzgerald e serve de princípio de composição para a sua sonoridade mais experimental. A ideia de uma quebra súbita e radical, capaz de despoletar questões quanto à própria identidade, resulta em canções com formas mais livres. No centro, está uma exploração subtil, mas exaustiva, da dinâmica de quiet/loud, em analogia ao paradoxo discutido por Fitzgerald no ensaio. O que, associado às letras sugestivas de uma superada crise de identidade, nos permite ouvir o disco como aquilo que é: uma comunicação discreta do que aconteceu a Pecknold enquanto esteve longe de nós.
O single “Third of May/Odaigahara” revela-nos o coração deste drama. Pecknold foi sempre introvertido e continua a sê-lo, como o revelam as já habituais melodias vocais oníricas. Mas as contrastantes entradas explosivas dos restantes instrumentos, que (pelo menos ao vivo, mas sempre como pressuposição) implicam a presença de outros, mostram-nos o passo de maturidade dado pelo multi-instrumentalista: “To be held within one’s self is deathlike”.
As I get older, I have more empathy for people. I think less about what’s bothering me and more about “how is this person feeling?” We’re kind of an extended family. (Rolling Stone)
FLEET FOXES, CRACK-UP | VIDEO OFICIAL
Maria Pacheco de Amorim
Slowdive, Slowdive (Dead Oceans, 12 Janeiro 2017)
Em 1993, durante um concerto em Coventry, o guitarrista Christian Savill olhou para a audiência e só havia uma senhora da limpeza a passar o chão com uma esfregona. Era altura de arranjar um emprego, pensou. Uma digressão pelos Estados Unidos salvou os Slowdive de terminarem na abjecção, mas o fim era inevitável. Géneros como o pós-rock e o shoegaze, que floresceram entre o Spirit of Eden (1988), dos Talk Talk, e o Souvlaki (1994), dos Slowdive, eram, mesmo quando nebulosamente ruidosos, demasiado introspectivos e experimentais. Foram varridos da ribalta pouco iluminada onde se escondiam, absortos na música ou nos pedais, pelos mais vistosos e comerciais grunge e Britpop. E ao som do escárnio da imprensa musical, que cunhava termos depreciativos como “shoegaze” e “a cena que se celebra a si própria” para rotular o que transcendia as fronteiras do até então conhecido.

O tempo fez jus a estas bandas. O seu entendimento da guitarra como geradora de timbres, texturas e atmosferas, mais do que melodias apelativas, e da banda como um colectivo anónimo, que cedia à música todo o protagonismo, influenciou a posteridade. O sucesso de discípulos como Beach House ou M83 e a liberalização do acesso à música providenciada pela Internet permitiu a redescoberta dos Slowdive pelas gerações mais novas, que depressa exigiram o seu regresso. Três anos passaram desde a digressão que teve um glorioso início no Primavera Sound de 2014, onde tocaram para uma vibrante audiência de milhares de pessoas (e zero esfregonas). Mas a espera valeu a pena, porque os Slowdive compuseram o que é um dos melhores álbuns de 2017. Não por acaso, tal como o seu primeiro EP, o disco é homónimo. Um renascer que não precisa de ser uma reinvenção. A história da banda era suficientemente rica, tanto em realizações como em possibilidades, para que dela pudesse ser retirada uma novidade deste calibre.
Beneficiando do trabalho de Chris Coady, produtor dos Beach House (e assim se fecha o círculo), este é o disco mais coeso dos Slowdive, vivendo dos detalhes mas sem nunca se arrastar, sustentando até ao fim uma delicada tensão. Os membros privilegiaram a dimensão ao vivo da banda, compondo canções na linha de Souvlaki, só que mais urgentes, acusando algumas delas a influência do pós-punk de bandas como os Interpol. O baixista Nick Chaplin manifestou a sua admiração pelos nova-iorquinos e “Don’t Know Why” e “Sugar for the Pill” revelam-no. Só a última faixa, “Falling Ashes” relembra a direcção mais ambiental e electrónica seguida no subvalorizado Pygmalion (1995) – naquela altura tão contracorrente que lhes granjeou a perda do baterista Simon Scott (ironicamente o grande co-autor desta canção) e a perda do contrato com a Creation Records. Uma recordação que profetiza a sonoridade do disco que há-de vir. É que a banda veio para ficar: “We’re no longer making time”. Porque tinha e tem uma promessa a cumprir: “Oh Lord, I remember those days and all those nights / when you wanted so much more.”
SLOWDIVE, SLOWDIVE | VIDEO OFICIAL
Maria Pacheco de Amorim
The War On Drugs, A Deeper Understanding (Atlantic Records, 25 Agosto 2017)
A noite está menos escura e assombrada na mente de Adam Granduciel, o incontestado líder e compositor dos War On Drugs, de Lost In a Dream, o seu 4º e anterior longa duração, o qual foi por muitos considerado o melhor álbum de 2014 (por aqui também). E se dúvidas houvesse acerca da contagiante alegria quase festiva que marca este novo álbum, bastariam os primeiros acordes de “Up All Night”, a primeira faixa de A Deeper Understanding, para as desfazer. É uma daquelas entradas de nos agarrar imediatamente pelo pescoço e de correr para o botão do rewind para a re-ouvir.
Se o rumo dos War On Drugs parece promissor, com mais um álbum nos primeiros lugares de dezenas de listas de melhores de 2017, Granduciel não esconde um certo positivismo, bastante ausente do seu anterior álbum.
Sometimes I’ll lay in the dark/ just to see if I can feel a spark
Um novo contrato agora com a Atlantic Records, a mãozinha de Shawn Everett na produção deste novo álbum, engenheiro de som dos Alabama Shakes, e last but not the least, o seu novo romance com Krysten Ritter (Jessica Jones e Breaking Bad) são mesmo capazes de ter dado uma ajuda.
Tanto as entradas ambientais e introspectivas, como as frequentes divagações mais psicadélicas de Lost In a Dream, deram agora lugar à sua vertente mais Springsteen, um discurso mais rock soalheiro, do que o shoegaze mais sombrio, embora a sua sonoridade continue sofisticada e coesa, rica em texturas delicadas, com belos graves e como sempre, um sentido rítmico vibrante da incansável bateria do seu fiel companheiro Charlie Hall. Cada música deste álbum é um edifício à prova de qualquer sismo ou tsunami e, se Dylan nos continua a espreitar por trás da voz de Granduciel, como em “Pain”, é agora mais a silhueta de Springsteen que se ergue com frequência entre os riffs de guitarra e a harmónica de Granduciel. Como refere com graça a nossa estimada revista Uncut, “Nothing To Find” de A Deeper Understanding está para “Glory Days”, como “Burning” de Lost In a Dream estava para “Dancing In the Dark”.
É verdade que nenhuma das faixas de A Deeper Understanding tem a força contagiante daquele diamante raro chamado “Red Eyes” e só mesmo talvez por isso os #1 sejam em menor número das Listas dos Melhores álbuns 2017, nas quais irá mesmo assim, e sem dúvida alguma, merecidamente figurar.
UP ALL NIGHT, WAR ON DRUGS | VIDEO OFICIAL
Rui Ribeiro
The Weather Station, The Weather Station (Paradise of Bachelors, 6 Outubro 2017)
Não por acaso é homónimo o quarto longa-duração de Tamara Lindeman. A cantautora de Toronto mostra aqui o seu verdadeiro rosto, mesmo se sempre através do veículo do seu projecto folk The Weather Station. Longe estão as melodias delicadas e introspectivas dos registos anteriores, com que as palavras se espraiavam lentamente no meio da reverberação. A decisão de Tamara de se aventurar a produzir ela o disco é só mais um indício de uma personalidade que emerge em toda a sua força, aqui e agora, na própria forma das canções.

Tendo arriscado produzir o álbum, as melodias dedilhadas da sua guitarra recebem arranjos que as revestem robustamente. Abandonada a antiga suavidade sonhadora, assumem agora uma segurança e urgência novas, sublinhadas pela secção rítmica propulsiva. Mas a grande surpresa está na intrincada textura rítmica, com a voz transformada num instrumento mais percussivo do que melódico, a recitar velozmente uma quantidade inacreditável de material poético, sem alguma vez ferir a prosódia ou falhar na cadência.
“I started writing these songs with these very fast lyrics which I don’t even know where that came from, but it just sort of happened and felt super natural and fun and that maybe came from a certain amount of being into people who really mess with phrasing. (PopMatters)
Paradoxalmente, Tamara põe de lado as personagens e as grandes paisagens rurais da tradição folk que caracterizavam os discos anteriores, para contar a história da sua relação com aquele que entretanto se tornou seu marido. O assunto desta narrativa são as mil minúcias, as meias palavras e os sentimentos subtis da convivência diária, o drama de como ser si próprio na entrega ao outro, toda a tristeza que irrompe inexplicavelmente naquele que se ama. Uma história íntima, doméstica que se desenrola diante do olhar da protagonista, que a conta enquanto a vive: “I love because I see”. Nós também, agora.
THE WEATHER STATION, THE WEATHER STATION | VIDEO OFICIAL
Maria Pacheco de Amorim
[tps_footer]
PUBLICAÇÃO EM PERMANENTE ATUALIZAÇÃO
[/tps_footer]




