Melhores Álbuns da Década 2010-2019
Estes são os Melhores Álbuns da Década 2010-2019 que ainda quereremos ouvir daqui a dez anos, para lá de todas as modas e agendas. Porque só isso é música.
A distorção do poptimismo
A tarefa de apreciar a criatividade de uma década é um pouco distinta de listar o que de melhor saiu ao longo do ano. Mais longe ainda de ser o resultado do cruzamento das preferências pessoais de cada um (mesmo se a preferência é um dos critérios), uma lista de melhores álbuns da década é, ou devia ser, um retrato artístico e cultural de uma época. Por sabermos como é difícil construir uma imagem de uma era que seja tão fidedigna ao passado quão profícua para o futuro, quisemos esperar um pouco e fasear todo o processo de seleção e votação dos álbuns que constariam da lista. No caso desta década em particular, acresce à dificuldade geral a complicação trazida por uma recente deriva dos critérios inerentes à prática da crítica de arte, pelo menos no meio da música pop, com a qual discordamos em grande parte. Este desacordo mais profundo obrigava a uma reflexão cuidada sobre o que queríamos que esta lista de melhores álbuns da década fosse e que contributo deveria trazer à discussão.
Várias vezes chamámos a atenção para uma atual existência de critérios extrínsecos ao valor artístico a subjazer à promoção de certa música em detrimento de outra. Uma valorização excessiva dos géneros da dita música urbana (pop/R&B, hip-hop, soul, reggaeton, etc) tem deixado na sombra muito do que se fez noutros âmbitos, aparentemente fora de moda e relegado para listas de especialidade, como se de música de nicho se tratasse. É o caso do emo, pop-punk, pós-punk, pós-rock, noise-rock, etc, contra os quais parece vigorar ainda a reação negativa dos críticos à sua divulgação massificada em meados da década dos 2000, talvez devido ao sucesso do revivalismo pós-punk, à inclusão (nem sempre criteriosa) de indie e emo em séries televisas como The O.C. ou One Tree Hill, ao gosto muito discutível da maioria das bandas da terceira onda de emo e à deflagração de cópias deslavadas de bandas pós-punk de genuíno valor como os Interpol. Outros motivos, mais obscuros ainda, parecem proceder à preferência contemporânea por formas menos agressivas de rock, na órbita do dream e bedroom pop e indie-folk, geralmente de cantautores ou bandas lideradas por um elemento feminino. Sem querer sondar demasiado, parece-nos contudo que a agenda política contemporânea, aliada talvez à necessidade de uma sobrevivência comercial, não deverá ser alheia à negligência de subgéneros há muito estabelecidos na tradição do rock alternativo.
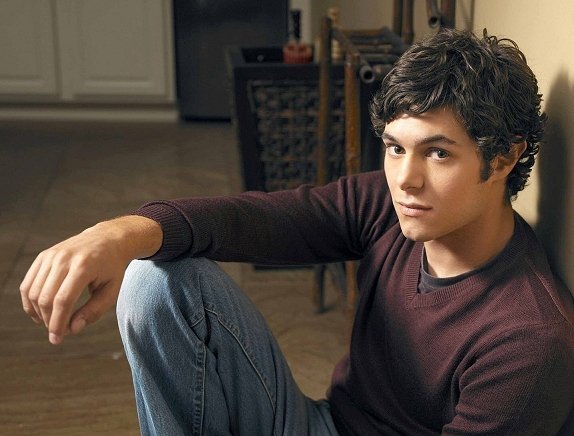
Sob a alçada desta agenda, herdada de um pós-modernismo há muito desaparecido de outras esferas da cultura, encobre-se uma erosão radical do princípio modernista da diferenciação entre obras de arte e indústria de entretenimento. Mesmo se nem sempre bem aplicado, a utilidade deste princípio parece-nos indiscutível ao criar uma tensão entre práticas distintas que se alimentam mutuamente e ao estabelecer ideais cuja prossecução e contestação são fonte de criatividade e inovação. Mas a indiscriminada discriminação de toda a discriminação que infesta o ambiente cultural do nosso tempo pretende atribuir um poder iconoclasta e revolucionário a manifestações musicais que, há uns anos atrás e para nós ainda, nunca passariam de instâncias de gosto duvidoso, vazias de qualquer significado relevante para homens de tempos e lugares distintos. Se nos objetarem que a abolição da ideia de gosto é precisamente o propósito político deste poptimismo que aqui rejeitamos, apenas podemos encolher os ombros e responder que, se o juízo de gosto for uma construção cultural elitista e inútil, ou (o que é o mesmo) todos os gostos forem igualmente defensáveis, então não são precisos críticos mas apenas os algoritmos dos serviços de streaming, que já existem e aos quais deveríamos oferecer uma alternativa. Parece-nos escusado relembrar que a atividade do crítico é procurar, ouvir, conhecer, comparar e discriminar entre o que tem e não tem valor, introduzindo leigos e caloiros na matéria a coisas que é uma pena desconhecerem. Se não for isso, resta apenas o papel de oferecer às pessoas razões para gostarem do que já gostam de qualquer maneira, o que talvez seja (isso sim) um pouco presunçoso, para além de pura e simplesmente patético.
Uma outra leitura da década
Uma alternativa é, por isso, exatamente o que quisemos propor com esta lista dos Melhores Álbuns da Década. De modo a garantir o ecletismo de uma lista que, dentro do âmbito da música pop-rock, se pretendia generalista, recolhemos um conjunto muito lato de álbuns, entre aclamados e injustamente esquecidos, provenientes de todos os géneros cultivados durante a década. Distribuímo-los por quatro grandes categorias – (i) punk, hardcore e noise; (ii) eletrónica ambiental e experimental; (iii) cantautoria, folk e dream pop; (iv) hip-hop, pop/R&B e art pop – de cada uma das quais, após extensa audição e ordenação, apurámos os melhores 25 álbuns. Reunido o conjunto dos 100 álbuns que constariam da lista procedemos então a nova audição e ordenação final.

Os critérios que nos guiaram, quer durante as eliminatórias, quer na final do campeonato, foram o valor artístico do álbum, o seu impacto histórico-cultural e a nossa preferência pessoal. Enquanto grandes exemplos de realização ou inovação do respetivo género ou até mesmo criadores de um novo género, enquanto versões originais e carismáticas de comunicação musical, teatral e literária de sentido existencial ou político relevante, enquanto contributos para o imaginário cultural, abrindo possibilidades novas de percecionar a realidade ou acrescentar à realidade, enquanto influenciadoras do modo de nos concebermos nesta década que passou, enquanto capazes de nos conquistar pessoalmente, todos estes álbuns mereceram um lugar nesta lista de melhores álbuns da década. Se a sua ordenação é sempre discutível, entre nós e até mesmo para nós, indiscutível é a afeição por cada um dos registos aqui incluídos e, embora nem todos pudessem chegar ao topo, qualquer um deles podia estar acima do lugar onde calhou. Tentámos salvaguardar aquilo que, desta década, quereríamos ainda ouvir daqui a dez anos ou que, pelo menos, não conseguiremos ouvir sem que nos venha toda esta década à mente. Sabemos bem que há ausências notórias, mas são deliberadas e não fruto de esquecimento ou desconhecimento. Esses álbuns foram todos ouvidos e reconsiderados mas o nosso juízo inicial de terem sido objeto de uma inexplicável sobrevalorização manteve-se, mesmo (ou sobretudo) passados vários anos.
Esperamos que esta lista seja um retrato daquela música da década de 2010 a 2019 com que valeu a pena conviver não só durante uns tempos, mas ainda agora e para sempre, não só por esta ou aquela classe de pessoas, mas por qualquer pessoa. Uma convivência que seja, como toda a verdadeira amizade, um desafio ao modo de nos pensarmos e à realidade, uma interpelação às profundezas do eu e àquilo que verdadeiramente deseja. Se as únicas cotas que tivemos em linha de conta foram os géneros (e apenas os musicais), foi por acreditarmos que o interesse político da arte está na sua independência política, na sua criação de um espaço onde todos nos possamos encontrar para falar do que nos une, ou do que nos separa desta unidade.
100. DJ Rashad, Double Cup (2013)
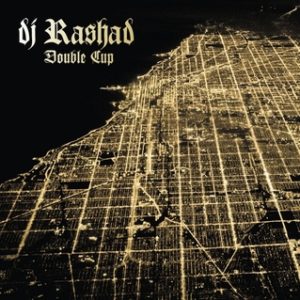
Tão icónico se tornou o Double Cup que é fácil esquecermo-nos quão antiga era já a cena do footwork por altura do seu lançamento em 2013. Associado a um estilo peculiar de dança de rua, onde o trabalho de pés garante a vitória, o footwork deve a sua existência, no início da década de 90, acima de tudo a RP Boo, resultando de uma metamorfose do juke e guetto house de Chicago, por meio da aceleração da batida e da sincopada distorção de amostras sonoras de rap e pop. Mas desde a mais tenra adolescência que Rashad Harden, juntamente com o seu amigo de liceu DJ Spin, se pôs a girar house e juke um pouco por todo o lado, até chegar à rádio universitária WKKC, integrando clãs de dança locais, fundando os Teklife e difundindo o novo estilo de footwork pela área metropolitana de Chicago. O género eventualmente chegaria à consciência colectiva com os vários discos e antologias lançados pela Planet Mu nos finais da década de 2000. Embora não se lhe possa atribuir a génese desta sonoridade, DJ Rashad foi seguramente peça fundamental no desenvolvimento da cena e o seu álbum oficial de estreia o mais bem conseguido do género. Em Double Cup a celeridade e intermitência do footwork são de tal modo exacerbadas que a função mais imediata da dança é transcendida e o álbum conquista a expressividade própria da música ambiente, desde o seu desconforto (há momentos em que as faixas se tornam um verdadeiro exercício de paciência) até à sugestão de certos lugares e estados de ânimo ou atmosferas. Os timbres, evitando a acidez da música eletrónica que lhe está no DNA, possuem um calor e aveludado acústicos que retiram o álbum das pistas de dança, levando-o para os bares de fim-de-tarde ou ruas da cidade, e da lógica repetitiva do footwork emerge paradoxalmente a liberdade e indefinição do improviso jazzístico. Sem a sofisticação de Double Cup não se perceberia como o footwork pudesse derivar na música experimental de Jlin, e sabe-se lá o que o próprio Rashad não teria trazido ao mundo se tão cedo não se tivesse deixado sair dele. Mas fica-nos este monumento do género, capaz de ofuscar tudo o resto e fazer-nos dizer que “everyday of my life”, “you’re the only one I need”. (Maria Pacheco de Amorim)
99. Dean Blunt, Black Metal (2014)

Natural de Londres (Hackney), Roy Nnawuchi, aka Dean Blunt, é um irrequieto, determinado e pouco ortodoxo cantor, compositor da cena mais vanguardista e e experimental do pop/rock alternativo. Dean começou por dar nas vistas ao lado da russa Inga Copeland, como Hype Williams, associação que deu à luz alguns bons álbuns e EP’s de house e colagens noisy. Em 2011, já sem Copeland, Dean Blunt inicia o seu fértil percurso a solo, do qual se destaca Black Metal (Rough Trade, 2014), um dos mais belos exemplos de como experimentalismo, harmonia e melodia não são elementos antagónicos. Embora rejeitando as classificações de chillwave e pop hipnótico frequentemente atribuídas ao seu trabalho, é difícil contudo não nos lembrarmos dos deliciosos Dean and Britta perante alguns dos seus melhores duetos, como aquele em “100” colado ao sample de Annabel Wright, dos Pastels, uma das bandas patriarcas da indie-pop. A abrir o álbum, o magnifico “Lush”, que só peca por curto, deve o seu acompanhamento de cordas a “For You” de outros veteranos do indie-pop, os lendários Big Star, não deixando dúvidas sobre as suas influências. Algumas faixas mais experimentais, com efeitos de reverberação e algum rap e sobretudo a sua arte de copy and paste de imenso bom gosto, marcam a diferença em relação aos tempos da Factory Benelux, acentuado ainda por aqueles sentimentos de desânimo e desolação bem presentes ao longo de Black Metal e refletido com imensa elegância naquela que é também uma das melhores faixas do álbum, talvez até da década, “Molly & Aquafina”: I think it’s time you should know […] So I ain’t worried ‘bout nothing”. (Rui Ribeiro)
98. The Caretaker, An Empty Bliss Beyond This World (2011)

An Empty Bliss Beyond This World é a melhor introdução possível ao trabalho do britânico Leyland James Kirkby e à sua música electrónica fragmentada e evocativa de recordações vagas e remotas. O conceito do disco parte da investigação da reacção de pessoas com Doença de Alzheimer à música que escutavam quando eram jovens, o estabelecimento de uma conexão a determinadas situações e tipos de emoção. O álbum de estúdio alicerça-se em poeirentas faixas de Dixieland jazz e desconstrói a sonoridade nostálgica com recurso à arte moderna do turntable. The Caretaker dá um nó firme na linha temporal do universo e cria uma falha na matriz, colocando-nos nos pés de uma personagem que tenta descodificar a sua vida por entre sons fracturados. Neste buraco desloca-se o ouvinte, enigmaticamente melancólico e intrigado pelos possíveis e inimagináveis trajectos. Nos corredores desta versão musical do Overlook Hotel, ouve-se música ballroom e a agulha risca o vinil, desgastando-o progressivamente. Procuramos um desfecho, mas as faixas terminam abruptamente. A música clássica desvanece e é consumida por ruído, até não existir mais. Um vazio imenso toma o seu lugar. The Caretaker ergue-se na paisagem negra, novamente de objectivo cumprido e experiência musical bem-sucedida. (Diogo Álvares Pereira)
97. Actress, R.I.P. (2012)

Há males que vêm por bem. Uma, talvez brilhante, carreira desportiva gorada foi a melhor coisa que aconteceu a Darren Cunningham, ou pelo menos a nós. Muitos terão sido os contributos de Actress para o mundo da música, mas o maior de todos foi a colaboração do seu terceiro álbum de estúdio para a onda de criatividade no âmbito da música tecno e ambiente mais experimental que, a julgar pela nossa lista, varreu os primeiros anos da década. Este é um disco que se move na zona do aparentemente aleatório. Um todo sobretudo atmosférico, inundado de eco e reverberação junta-se ao som de instrumentos mais acústicos como violino e violoncelo, harpa, guitarra, sinos, flautas, para criar um espaço nostálgico indefinível. Nele, coagulam-se faixas onde se sobrepõem, à partida desconexas, linhas melódicas esparsas, cujas notas e amostras soam distantes o suficiente para resistir à apreensão de um motivo. Tudo subordinado às, muitas vezes reminiscentes, fórmulas do tecno de Detroit, como em “Iwaaad”, ou dub, em “Marble Plexus”. Mas no seio dos sons cósmicos, troços melódicos e perene incompletude, esborratadas em “Shadow from Tartarus”, intermitentemente emudecidas na grande “Raven”, as linhas de baixo alusivas à música de dança esfarelam-se sob aquela atmosfera que deveriam orientar, soando submersas na distância, como fragmentos de uma história desaparecida. R.I.P. (Maria Pacheco de Amorim)
96. The Radio Dept., Clinging to a Scheme (2010)

Nos últimos anos, a relação entre a pop e o hip-hop foi-se estreitando, assim como entre o indie e a pop. Mas o hip-hop nunca tinha estado tão próximo do shoegaze como em Clinging to a Scheme. Nas faixas é impossível ignorar, logo nos primeiros segundos, o filtro na voz de Johan Duncanson. À medida que avançamos no alinhamento, percebemos também que este não é o único filtro presente. Os Radio Dept. sempre tiveram um som peculiar e em Clinging to a Scheme torna-se evidente que isto se deve à vastidão de influências que o grupo reúne. Certamente o indie pop e shoegaze saltam à vista, mas o doo-wop em “David” não passa despercebido, nem os samples retirados de documentários sobre a cena do hip-hop ou a resposta de Thurston Moore sobre a indústria do rock em “Heaven’s On Fire”. Temporalmente, podemos ir ainda mais longe e ouvir Beach Boys nas melodias. Este alargado espetro tem tudo para dar errado, não fosse o gosto certeiro da banda. Ainda mais surpreendente é a coesão sonora do álbum, depois de tanta costura de retalhos, o que mostra que os Radio Dept. têm controlo total sobre a sua sonoridade. Na arte, a complexidade desnecessária é muitas vezes tomada por qualidade. Por essa razão, há algo de desafiador na acessibilidade, intencional e descarada, de Clinging to a Scheme. (Pedro Picoito)
95. Lil Ugly Mane, Mista Thug Isolation (2012)

Uma salva de palmas para Lil Ugly Mane e o seu subvalorizado Mista Thug Isolation. Numa década dominada pelas diferentes formas de hip-hop e uma abundância de álbuns de estúdio sonoramente integrados nesta grande família, a obra do rapper Travis Miller destaca-se pelo perfil iconoclasta e o clima misterioso circundante. O artista originário de Virginia cria um distanciamento entre o seu rosto e a arte que produz, acompanhando cada mudança de estilo e etapa na sua carreira com a adopção de novos pseudónimos, sendo Bedwetter, Shawn Kemp e Lil Ugly Mane alguns dos mais célebres. No caso de Lil Ugly Mane, Mista Thug Isolation é um álbum fortemente enraizado na tradição do southern hip-hop e, em paralelo, esteticamente distinto do remanescente catálogo do hip-hop dos 2010’s. A veia esotérica interligada à era digital é a característica mais notável do disco, reunindo o fascínio pelas ciências ocultas à atitude dos rappers representativos do Dirty South, as suas barras directamente confrontacionais e a cultura hedonista celebrada. A produção encontra uma zona de conforto no passado noise de Travis Miller, incorporando igualmente elementos do jazz, sintetizadores e samples de voz. Repleto de colaborações cativantes, Mista Thug Isolation é um oásis etéreo no meio do deserto de inovação que assombra o género. (Diogo Álvares Pereira)
94. Burial, Rival Dealer EP (2013)

No início desta década, o sucesso do britânico William Bevan, sob o nome de projeto Burial, arrastava uma vaga de novos nomes que, esperançosos, copiavam o som característico do artista. Como resposta, em Rival Dealer, Bevan saiu do seu “som característico”, destacando-se dos imitadores e reiterando o porquê do seu sucesso. Ao longo deste, agora icónico, EP são usados vários samples de voz, sendo o discurso da realizadora Lana Wachowski o mais perceptível de todos, rematando o EP. A mensagem é clara: “I am loveable”. O próprio Burial caracterizou o EP como três “faixas anti-bullying que poderiam talvez ajudar alguém a acreditar em si mesmo”. Ao mesmo tempo que oferece um consolo, Rival Dealer retrata também o seu público-alvo. As faixas expõem a fragmentação e o ruído que se sente no caminho de descoberta da própria identidade. Uma voz assegura-nos, “You don’t have to be alone”, mas o registo mostra a profunda introspecção e a solidão de quem vive a dilacerante dúvida sobre si mesmo. Mais do que hinos anti-bullying, o EP é uma caracterização, sem vernizes ou pós, de todos os que procuram um poiso numa sociedade de que se sentem alienados. (Pedro Picoito)
93. The Menzingers, On The Impossible Past (2012)

Por vezes, uma ação sem qualquer intenção por trás acaba por ter um resultado perfeito, que seria deveras inatingível com o mais minucioso dos planos. É uma experiência comum e os The Menzingers fizeram-na em On the Impossible Past. Descrito pelo guitarrista e vocalista Greg Barnett como “um álbum conceptual por acidente”, nele tudo parece cair no sítio certo. A capa é uma fotografia tirada na área nordeste da Pensilvânia, que serve de cenário a grande parte do álbum. Devido a vários fatores geográficos e sociológicos, projetou-se um futuro economicamente próspero para os habitantes da zona. Em On the Impossible Past, a banda apercebe-se de que a vida adulta da sua geração já não integrará o tempo das vacas gordas. E não ficam por aí. O grupo questiona se os tempos de abundância alguma vez existiram, denunciando a pobreza, os problemas sociais, as drogas e a saúde mental dos locais, abalados pela corrida desenfreada atrás de possíveis oportunidades. A protagonista da capa é desconhecida, mas quem a observa sente-se próximo. Com as canções acontece o mesmo. São íntimas e familiares. As emoções e as frustrações retratadas por vezes são cruas. Mas serão as histórias de vários ouvintes que, de alguma forma, amadureceram e experienciaram que as lentes da vida adulta revelam as montanhas outrora ocultadas pelas lentes da infância. On the Impossible Past é um dos mais complexos retratos do sonho americano no dia-a-dia e, com as suas melodias irresistíveis aliadas a um temperamento punk, um furacão que não queremos ignorar. (Pedro Picoito)
92. Savages, Silence Yourself (2013)

Poucas bandas desta década se podem gabar de ter tanto carisma como as Savages. Uma secção rítmica imbatível, uma guitarra lacónica nos seus acentos e distorção e, em primeiro plano, a voz vibrante e impositiva de Jehnny Beth. Dito assim parece a descrição, não desta banda feminina de Londres, mas daqueloutra de Manchester que todos bem conhecemos e a comparação não é despropositada. Silence Yourself é seguramente um dos maiores álbuns pós-punk da década, a sua assertividade minimalista alternando com secções de puro ruído ou momentos atmosféricos como a coda de “Dead Nature”, a força teatral de Beth sustentada por algumas das mais memoráveis linhas de baixo dos 2010 (“Shut Up” vem logo à mente), a banda toda unida numa única e incontornável declaração de intenções. O que seja mesmo que as Savages estejam a dizer, no seu registo profético de um eu desencarnado a interpelar um tu ainda mais indefinível, não se percebe bem e talvez não seja importante. O poder da mensagem não está no conteúdo semântico dos versos, de talento poético discutível, mas no ânimo que Beth traz à sua performance e na convicção com que a banda ora a sublinha unânime ora a pontua agressivamente nos intervalos. É tudo pura confiança, puro desdenho e furor, pura afirmação de desejo de existir e ser ouvido no que se tem para dizer. Ficar em silêncio, um pouco de boca aberta desde que nos mandaram calar, é a primeira e talvez única reação possível. (Maria Pacheco de Amorim)
91. White Lung, Deep Fantasy (2014)

Nunca é fácil destacar-se no jogo de possibilidades limitadas que é o hardcore, mais ainda décadas depois de o tabuleiro ter sido posto em cima da mesa. O mero exercício é, por si só, um desafio e cinzelar uma sonoridade invulgar, num campo restrito e estafado como este, é ganhar o campeonato. Mas não há dúvida de que os canadianos White Lung, de Vancouver, mereceram representar o género na memória colectiva da década que passou. A banda de Mish Barber-Way chamou a atenção do mundo com o seu segundo registo Sorry (2012), onde se delineia já uma personalidade distinta, mas foi em Deep Fantasy que a sonoridade, totalmente focada, alcançou a precisão e acutilância para disparar certeira, mandando tudo aos abrigos. Anunciadas pelo martelar inicial dos timbalões, as canções explodem por dois minutos, a bateria avançando pujante e inexorável, a guitarra alternando entre guturais acordes metralhados e agudos arpejos ziguezagueantes, as melodias vocais infecciosas, o arrasto e descida de tom das últimas vogais dos versos a espalhar desdém sobre todos os reais e potenciais ofensores. Embora a consistência deste, apesar de tudo breve, álbum possa cansar alguns, a verdade é que isto é hardcore, e o gozo está nas pequenas inflexões de uma fórmula vencedora, nas mínimas variações que vão expandindo uma mesma viciante ideia trabalhada ao longo de Deep Fantasy. Brama Mish que “I always win”. Tinha toda a razão. (Maria Pacheco de Amorim)
90. Marnie Stern, Marnie Stern (2010)

Desde o primeiro álbum de Marnie Stern que a junção da guitarrista americana, exímia na arte de tapping, e do multi-instrumentalista dos Death Grips, Zach Hill, na bateria, se concretiza num encontro fascinante. A componente percussiva incutida por Hill, complementa e refina as investidas ferozes dos instrumentos de corda, de formas geralmente inesperadas. Em “Gimme” cada batida desencadeada por Hill parece desafiar as notas que Stern arranca da guitarra, resultando num crescendo envolvente que nunca se torna caótico. Sem dúvida que o virtuosismo técnico dos artistas marca o álbum do início ao fim, mas a destreza de Marnie Stern com a guitarra torna-se ainda mais chamativa e impressionante quando carregada pela expressão autêntica da turbulência emocional que a assombra. Oscilando entre momentos de êxtase e de dúvida introspetiva profunda, as canções de Stern são eminentemente reveladoras do seu íntimo. “For Ash” é uma carta dedicada ao ex-namorado falecido, abrindo numa vaga de céleres motivos de guitarra e terminando com uma agradável melodia absorvida pelo luto, que nos introduz logo à diversidade sonora e energética que o registo homónimo comporta. “I got something in my soul/Pushing me to hold onto the pain”, relata-nos Marnie Stern, inserida num mundo inclemente. “But my heart beats fast”, diz também, revelando ser capaz de enfrentar as adversidades que ocupam a sua vida sem deixar de, com um toque espirituoso, assumir a própria fragilidade. (Margarida Seabra)
89. Nils Frahm, Spaces (2013)

Nos últimos anos, o lançamento de álbuns ao vivo tem-se tornado não só abundante como também, por vezes, muito pouco interessante, surgindo a maior parte das vezes motivado por fins comerciais e satisfazendo apenas um pequeno grupo de acérrimos entusiastas da banda em causa. Único, nesta lista da década, Spaces de Nils Frahm é talvez dos poucos registos ao vivo, que merece realmente o título de álbum e não de compilação de várias faixas. O compositor alemão reuniu gravações de mais de trinta performances ao longo de dois anos, selecionando partes e misturando-as naquilo a que se refere como “a field recording”. Como o próprio nome do álbum tenta apontar, a situação individual de cada gravação, as características dos próprios espaços e as ações e reações das diferentes audiências providenciam os limites e a inspiração para o trabalho de Frahm. “Improvisation For Coughs and a Cell Phone” mostra a união de todos os elementos díspares e aparentemente antagónicos que marcam uma performance ao vivo e são aqui deliberadamente acolhidos pelo artista. Iniciando-se com o piano percussivo de Frahm, quando as notas se tornam mais distanciadas e suaves, o silêncio meditativo é interrompido (ou preenchido) por sinais de vida da audiência, que tornam o devaneio do artista num momento íntimo e coletivo. Neste semi-documentário, semi-diário, sobressai a diversidade da discografia de Frahm e o seu virtuosismo técnico ao vivo, aliado a uma performance intensa que une as várias faixas e os múltiplos locais de gravação numa única e inesquecível visão. (Margarida Seabra)
88. Voices From The Lake, Voices From The Lake (2012)
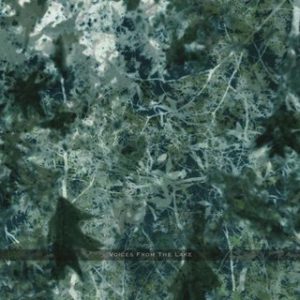
O homem é um animal omnívoro e o artista mais ainda. Desde as experiências cubistas e dadaístas que passou a ser lugar-comum não haver nada neste mundo que não possa servir de material para a composição de sentido. Grande parte do fascínio de Voices In the Lake, álbum de culto do duo italiano de Donato Dozzy e Neel, está precisamente no uso da música tecno para criar qualquer coisa de indefinível que habita a fronteira entre a paisagem noturna das pistas de dança e os lugares naturais evocados pelo rótulo e pelas amostras sonoras que os documentam. “Habitar” talvez não seja bem o termo, uma vez que esta fronteira nunca existiu antes, nem voltou a existir depois deste álbum. Talvez seja mais exacto dizer que Voices In The Lake criou o espaço onde mora, gerando o cenário ao ar livre, enigmático e profundo, que envolve por todos os lados a nossa dança ao som da sua elegante e impassível cadência. Esta peça única recorre à fórmula do transe para dela reter apenas a batida e o seu deliberado crescendo, transmutando-a e recontextualizando-a. Arpejos cujas notas ecoam solitárias, por vezes guturais, no espaço abismal. Sons de insectos ou aves que sobrevoam as águas, cujo gotejar e escorrer ouvimos. Vozes e tons avulsos que soam aos eventos isolados de um qualquer espaço pastoral. Circundada agora de tudo isto, a batida progride lentamente, desfasando-se microscopicamente da restante textura que se vai metamorfoseando ao seu redor, de forma imperceptível. A proeminência do eco e dos graves e a imperturbável repetição da batida, emergindo e submergindo, ou inchando vagarosa, lançam um manto de distante indiferença que enche de reverência e solenidade esta paisagem sonora. Mas o discreto e animado desenvolver-se da vida ao seu redor – em que, forçados pela monotonia da história principal, começamos a reparar – traz a este lugar o calor e a familiaridade do mundo que já não vemos nem ouvimos. A não ser quando alguém se dá ao trabalho de o reconstituir, esculpindo esmeradamente os seus ruídos numa colagem sonora exímia. E exibindo, mais ainda, a virtude de não se ficar pelo registo ambiental com que abre e projecta o cenário, mas evoluindo, na paciência do tempo e do ouvinte, até às indubitáveis e irresistíveis faixas de dança com que nos conquista finalmente. (Maria Pacheco de Amorim)
87. Boards Of Canada, Tomorrow’s Harvest (2013)

A trilogia dos álbuns de estúdio Music Has The Right To Children (1998), Geogaddi (2002) e The Campfire Headphase (2005), tal como o EP In A Beautiful Place In The Country (2000), foram o principal refúgio, durante quase uma década, dos saudosos fãs dos Boards Of Canada. Alguns descendentes no IDM e no hypnagogic pop tentaram replicar a fórmula ímpar desta dupla eletrónica escocesa, sem sucesso notável. A música downtempo, a textura analógica e o recurso a amostras que remontam à infância dos irmãos Michael Sandison e Marcus Eoin são os ingredientes fundamentais da sua sonoridade inquietantemente nostálgica, porém a receita das dinâmicas sempre permaneceu sigilosa e confinada às fronteiras das misteriosas faixas, ainda que os artistas frequentemente abordem o processo criativo da sua obra durante raras entrevistas concedidas. No início da década passada e fiéis ao seu estilo críptico, os Boards Of Canada acaloraram os ânimos da base de fãs com o lançamento de um single associado a um código. Posteriormente, cinco outros códigos foram divulgados através de diferentes meios de comunicação social. Descodificada a sequência numérica final, a audiência adquiria acesso a uma página web que anunciava o muito antecipado quarto álbum de estúdio dos Boards Of Canada. Previamente à gravação do disco, Michael Sandison e Marcus Eoin haviam tirado algum tempo para viajar. A sensação de distanciamento do urbanismo e conexão com a mãe-natureza como um todo infiltra-se nos poros das faixas. Simultaneamente, Tomorrow’s Harvest guarda em si uma premonição, a rota de um cavaleiro do apocalipse que desce à terra para apregoar o fim dos nossos tempos. Nas mensagens subliminares, no revivalismo da estética dos filmes de terror de culto da década de setenta e oitenta (John Carpenter e Fabio Frizzi influenciaram a sonoridade de Tomorrow’s Harvest) e nas paisagens sonoras meticulosamente desenhadas, domina a intemporalidade sonora, a manifestação divina, mas também uma faceta tétrica reminiscente de Geogaddi. Tomorrow’s Harvest transporta-nos de volta a uma infância longínqua e estranhamente familiar. A jornada não é efectuada com o intuito de chorar um passado desconhecido, mas sim de descobrir na anamnese os padrões que descortinam a catástrofe do futuro. (Diogo Álvares Pereira)
86. Phoebe Bridgers, Stranger In The Alps (2017)

Stranger in the Alps é uma referência à censurada cena da versão televisiva do filme de culto dos irmãos Coen, The Big Lebowski. Nela, o personagem interpretado pelo ator John Goodman diz “do you see what happens when you fuck a stranger in the ass?” que acabara por ser censurada de forma hilariante para algo como “do you see when you find a stranger in the alps?” Não há forma mais arrojada de desarmar o ouvinte, e Phoebe Bridgers, uma das artistas mais promissoras da cena indie/folk americana, é exímia nessa arte de mascarar temas profundos com uma dose de humor certeiro. O seu primeiro álbum de longa duração é, no fundo, uma coletânea de canções tristes, fúnebres e por vezes devastadoras, servida com um twist caricato de quem não se quer levar muito a sério. Num universo musical já densamente povoado (onde se encontram, por exemplo, Lucy Dacus e Julien Baker, os dois terços restantes do supergrupo boygenius), Phoebe consegue reinventar-se através de canções de métrica suave e poemas recheados de jogos de palavras, realismo e intimidade. Resta-nos dar-vos as boas-vindas ao mundo de Phoebe Bridgers, rainha dos memes, do humor negro e das canções de fazer chorar as pedras da calçada. Que reine por muitos anos. (Daniel Rodrigues)
85. Protomartyr, The Agent Intellect (2015)

A existir uma lista de verificação que enumere as várias componentes de um grande álbum, não duvido que The Agent Intellect preencha a maioria dos requisitos. Depois de perder o pai para um ataque cardíaco e a mãe no seguimento da doença de Alzheimer, Joe Casey foi mais a fundo nas suas questões. Há inevitavelmente um foco grande nas figuras dos pais, refletindo na morte, na passagem do tempo e no envelhecimento, com o desgaste que lhe está associado. Mas, de forma mais geral, Casey foca-se no Mal e em como a sua principal fonte está entre os homens. A sonoridade da banda também amadureceu. No terceiro álbum, o foco dos Protomartyr já não é tanto as melodias viciantes mas as guitarras e a percussão, que criam uma atmosfera tensa, digna das temáticas abordadas. Todos estes aspetos fazem de The Agent Intellect uma excelente obra. Ainda assim, o que realmente a destaca é a humanidade da mesma. A depressão e a raiva contra o mundo, constantes do pós-punk, estão lá. No entanto, o álbum é elevado pela sensibilidade refinada das letras, económicas como nunca antes, mas das mais eficazes no repertório dos Protomartyr. Para exprimir as suas dúvidas existenciais, o grupo construiu, por oposição, um registo onde todos os elementos parecem ter um sentido. Cada explosão tem um propósito, cada palavra foi escolhida com um objetivo. Como resultado, em cada compasso sente-se uma presença conscientemente humana no meio de toda a incerteza. (Pedro Picoito)
84. The Knife, Shaking The Habitual (2013)

A dupla sueca de música eletrónica, constituída pelos irmãos Karin e Olof Dreijer, é um conjunto que tem tanto de êxito como de enigma. Quando começaram a dar os seus primeiros concertos, surgiam em palco em contraluz, de tal maneira que só avultavam as suas silhuetas. Alternando entre máscaras ou pinturas faciais, nunca se revelavam em entrevistas e das poucas vezes que deram sequer atenção a algum dos prémios que lhes foi atribuído, aproveitaram para boicotar a cerimónia. Em Silent Shout, o seu álbum de estreia, este desígnio de causar desconforto e estranheza ao ouvinte sobressai na distorção da voz de Karin, aproximando-a de grunhidos alienígenas. Decorridos sete anos, os The Knife voltaram a surgir, desta vez com Shaking The Habitual. Subitamente vimos as suas caras surgirem explicitamente no videoclipe de “Full of Fire” (que não deixa de ser ainda uma experiência perturbadora) e o duo partilhou fotografias de promoção. Mesmo assim, as coisas não ficaram menos estranhas, talvez a extravagância até se tenha exacerbado. A citação de Foucault que dá nome ao álbum, evidencia o desejo de confrontar a tradição e os costumes da sociedade em que o duo se vê inserido, nomeadamente através da luta contra a extrema riqueza, a abolição do patriarcado e da monarquia, como os seus versos revelam. Mas o que sobressai de valioso, nesta busca incessante pela inovação, são as complexas estruturas musicais, os sons orgânicos com toques industriais, os 19 minutos de “Old Dreams Waiting to Be Realized” captados em várias horas de edição de feedback eletrónico, a adição de cítaras, um instrumento que aparentemente construíram com “uma velha molinha” e “um microfone”, todos fundidos no único propósito de quebrar os próprios hábitos da banda. Este registo distingue-se do anterior trabalho desenvolvido pela dupla e destaca-se sem dúvida na década em que está inserido. Concorde-se mais ou menos com as proclamações sociais que motivam o duo, não há dúvida que a sua capacidade inventiva atinge aqui novo cume. E se nos deixa por vezes extremamente desconfortáveis isso não é mau nem de estranhar, antes se entranha como aquele embate entre o habitual e o exótico de que a banda sempre se alimentou. (Margarida Seabra)
83. Colin Stetson, New History Warfare Vol. 2: Judges (2011)

Escutando New History Warfare Vol. 2: Judges, ninguém diria que a guerra é travada por um só homem, com a série ininterrupta de batalhas a serem documentadas ao vivo no seu primeiro e único acontecer no famoso estúdio Hotel2Tango, em Montreal. Tirando as vozes de Laurie Anderson e Shara Worden e outras raras excepções, todo o bulício que agita feroz o campo de batalha, ou o embala nostálgico, saiu do corpo e virtuosismo de Colin Stetson durante a performance das canções. Ouvimos o que se passou. O ruído percussivo das teclas do saxofone baixo, captado por microfones de contacto estrategicamente colocados no instrumento. O motivo de baixo soprado pelo saxofone e, sobre ele, fragmentos melódicos mais agudos, produzidos por meio de vocalizações. A linha melódica gerada pela captação das vibrações das cordas vocais por outro microfone de contacto, a adensar a textura. As imperfeições e ruídos do próprio fazer, uma respiração aqui, um clique metálico acolá. Por fim, a captura do evento por mais de vintes microfones colocados em diversos pontos da sala. Um prodígio de desempenho e produção, na fronteira do jazz, do pop e do simplesmente indefinível, que poderia soar a exercício fútil ou malabarismo circense. Não fora a genuína expressividade do espectáculo, a sensibilidade para o pulsar das melodias enquanto surgem, a luta de um corpo para se sublimar em música, o gemer da vida dada à luz. (Maria Pacheco de Amorim)
82. Emeralds, Do I Look Like I’m Here? (2010)

Embora a recente inundação de reedições do trabalho antigo possa ser presságio de um regresso da banda, à partida, até mais ver, os Emeralds já não existem. Com apenas dois álbuns oficialmente lançados, Does It Look Like I’m Here? foi contudo suficiente para granjear-lhes um lugar no mapa do consciente colectivo. À pergunta do título podemos por isso responder, anos depois, sim, definitivamente. O travo new-age, estelar da sonoridade do álbum de estreia do trio de Cleveland poderia absorver-nos a mente e dissolver-nos no processo, o espírito amortecido pela melodia de mais lento andamento na textura, a espraiar-se ondulante em perene reverberação. Mas outras linhas de sintetizadores, em ritmo de colcheias ou semicolcheias, agitam as águas, tirando-nos do torpor e contrariando o desejo de deslizar no vazio da consciência. Uma estranha, de tão imperceptível, propulsão anima estas melodias em ecoante looping e denunciam a herança das bandas de krautrock, como Neu!, Can ou Tangerine Dream, totalmente assumida no ritmo motorik da faixa final “Access Granted”. O cosmos onde a alma se poderia perder em hipnótica contemplação é atravessado por incessante vida e movimento, solicitando a nossa atenção para cada um dos veios que compõem a textura, salientando-se ora um ora outro, pontuados por um detalhe aqui, outro acolá. Este cosmos que poderia passar desapercebido, tão homogéneo e monocórdico parece à primeira, vai-se revelando, a quem ali estiver para o ouvir, em cada canção, em cada evento ou aventura única e irrepetível do mesmo ser, tornando-nos presentes nele e, no processo, presentes a nós próprios também. (Maria Pacheco de Amorim)
81. Priests, Nothing Feels Natural (2017)

Os Priests, grandes promotores da ética DIY, lançaram três EPs e dois álbuns de estúdio através da sua gravadora independente Sister Polygon Records. Nothing Feels Natural de 2012 é talvez o seu maior sucesso. O álbum de estreia da banda de Washington DC põe em causa qualquer pretensão de circunscrever o trabalho dos Priests a mero pós-punk e o próprio G.L. Jaguar admite que esta denominação visa, na maioria das vezes, fins económicos. Em Nothing Feels Natural funde-se a pujança da denúncia punk, o anseio indie pop, dotado de um toque jazzístico, que surge através da junção do saxofone e do piano, com uma energia funk, advinda da percussão analógica, bem evidente na última faixa do registo. Mas, se a sonoridade é tão abundantemente influenciada quão inovadora, o protesto a que a banda já nos habituara permanece e sobressai em versos que nos revelam uma visão fragmentada e abstrata do que significa viver num lugar artificial e num mundo aparentemente toldado. Começando por criticar uma sociedade feita de aparências, na qual por vezes construímos o nosso eu sustentados numa marca, “I thought I was a cowboy because I Smoked Reds”, o grupo dá-se conta da crise de identidade que esta postura provoca, “People are born and dying inside of me all the time/Tomorrow’s going to be a different life”. Pela voz e expressiva performance de Katie Alice Greer, a banda revela a sua ironia mordaz (“it feels good to buy something you can’t afford”), que culmina em momentos como em “No Big Bang”, onde o cenário distópico se concretiza num desespero insustentável, “No birth/ No Big Bang”. Haverá alguma esperança para este mundo tão pouco natural com que a banda se depara? Chegamos ao fim do álbum e não parece ser possível entrever uma luz ao fim do túnel (afinal a última faixa chama-se “Suck”). No entanto, como em qualquer grupo punk, se a aparência e o modo podem surgir agressivos e o seu sarcasmo niilista, por detrás deles sobressai uma simplicidade e um verdadeiro desejo de subversão da cultura, que poderão ser verdadeiros motores para a mudança. (Margarida Seabra)
80. PUP, The Dream Is Over (2016)

“The dream is over” foi a frase que Stefan Babcock ouviu do médico, quando lhe diagnosticou uma hemorragia nas cordas vocais. Depois do álbum de estreia e a meio de uma longa digressão, o vocalista dos PUP foi aconselhado a deixar de vez a música. O conselho impactou a banda, mas não da forma esperada. Babcock transformou as palavras do médico no título do segundo álbum dos PUP, num misto de sarcasmo e negligência que tanto lhe é característico. Os refrães energéticos das canções, cantados em coro, prometem dar-nos a volta à cabeça e as inclinações pop na sonoridade do álbum contrastam com as letras agressivas. Por outro lado, Babcock ridiculariza também os próprios sentimentos, através de um exagero teatral e doses elevadas de ironia. Desta forma, evita que The Dream Is Over caia num egocentrismo enjoativo, transformando-o numa obra cómica, caricatural até. Fala-nos com sinceridade de emoções profundas e até íntimas, mas sem se levar demasiado a sério. O registo é exemplar na forma cuidada com que trata tanto as complexas partes das guitarras como a raiva nas letras, sendo uma referência no pop-punk da década. A frase “I hope you know what you’re doing” fecha o álbum e, se Stefan Babcock pode, por vezes, não saber muito bem aonde ir na vida, nós pelo menos temos a certeza de que os PUP sabem exatamente o que andam aqui a fazer. (Pedro Picoito)
79. Kiasmos, Kiasmos (2014)

Às vezes um álbum chega ao pódio só por ser um exemplar realmente bem conseguido de qualquer coisa que já existe. Sem ser pioneiro, inimitável ou profundo, o homónimo disco de estreia dos Kiasmos prima pela sofisticada elegância e inegável identidade, pela tessitura de um infeccioso baixo emprestado do tecno, melodias vindas do transe, que crescem sem nunca culminarem, e uma ominosa e nostálgica atmosfera de motivos e timbres neoclássicos, em que tudo cedo ou tarde se metamorfoseia. Nada tem de sentimental, mas tão pouco de meramente dançável e funcional a sonoridade gerada pelo duo do multi-instrumentista e produtor islandês Ólafur Arnalds, a quem devemos as ecoantes notas de piano e as cordas plangentes, e pelo faroense Janus Rasmussen, que arrasta tudo para o ambiente dos clubes nocturnos só para impedir a entrada da festa no afterhours. O álbum vai progredindo imperceptivelmente da sua abertura mais ambiental, com subterrâneas arritmias a inquietar o voejar melódico, à maneira de Four Tet, até ao par final das febris e ritmadas “Bent “ e “Burnt”, onde é mais evidente a origem desta música na EDM. Mas em momento algum se cede ao desafogo e todo o crescendo, por sonoro e distorcido que se anuncie, conhece eventualmente uma qualquer forma de boicote, reafirmando a impassibilidade última que atravessa todos os momentos serenos, pungentes ou exaltados do disco. As referências poderão pairar como vultos na distância, nenhum campo de possibilidades ser rasgado, mas não falta a Kiasmos uma distinta personalidade, cujo andamento pleno de confiança nos acende, abraça, envolve, abala, atira, arrasta, dobra e incendeia. É ouvir as faixas para acreditar nos títulos. (Maria Pacheco de Amorim)
78. A Winged Victory For The Sullen, A Winged Victory For The Sullen (2011)

Desde sempre que a música ambiente tem recorrido a instrumentos eletrónicos para criar as suas paisagens e texturas. Ainda assim, em A Winged Victory For the Sullen, o grupo homónimo, de nome inspirado pela estátua grega da Vitória de Samotrácia, optou por uma aproximação diferente. No álbum de estreia, a dupla formada por Adam Wiltzie (Stars of the Lid) e pelo pianista Dustin O’Halloran usou apenas instrumentos tradicionais, como o piano, violoncelo e violino. Para além disto, o eco e a reverberação das faixas são consequência direta dos espaços em que o álbum foi gravado – grande parte das gravações foram feitas na igreja Grunewald, em Berlim. Este desvio das técnicas mais consensuais resultou num álbum ambiental que não se fica pela paisagem. AWVFTS entra pelos territórios pós-rock e da música clássica sempre de forma suave e natural, sem que as etiquetas venham sequer à cabeça do ouvinte. Concebido, em parte, como um tributo a um amigo tragicamente desaparecido, os arranjos neste registo inserem-nos num nevoeiro denso. No meio desta atmosfera cerrada, as linhas melódicas que se vão destacando são como penas brancas a cair graciosamente, nuvens adentro, das asas dessa mesma Vitória que ilumina o nome. (Pedro Picoito)
77. Jam City, Classical Curves (2012)

Agora que, em anos recentes, o deconstructed club atingiu a consciência geral, popularizado por artistas como Arca ou SOPHIE, é fácil esquecer quão forasteira soava aos ouvidos comuns, mas também especializados, a paisagem sonora criada por Jack Latham, no seu projecto Jam City. Críticas da altura descreviam o suceder dos estilhaços de vidro, ruídos de obturadores e disparo de tiros como quem narra uma história em vez de elencar as propriedades duma espécie. No tempo estas amostras passaram a integrar a palete sonora do género, unindo numa única tradição a “Faceshopping”, da SOPHIE, e a “Her”. Mas Classical Curves, a fazer jus ao nome, é bem mais do que uma mera disrupção da estabilidade das batidas de dança, por meio de abruptas mudanças de compasso, forte destacado e metálica atonalidade, inspirada pelas vanguardistas festas do clube GHE20G0TH1K ou outras cenas como o footwork ou Jersey club. Este álbum nunca foi apenas música de dança futurista ou mesmo um comentário irónico a essa música, como a IDM dos anos 90. Desde o início, o álbum foi, talvez pomposamente, concebido como um retrato do fascínio exercido pela estética da abundância na era digital, um exercício de Arte Pop para o novo milénio. Mesmo admitindo que a inclusão de melodias e sintetizadores abrilhantados de new wave e synth-pop dos anos 80 possa sugerir uma época de otimismo e histórias de sucesso, yuppies e comédias do John Hugues, ainda assim as parecenças não deviam ser óbvias nem sequer em 2012. Menos ainda a desconstrução desse brilho e abundância por meio da desfragmentação das batidas, a influência dos Einstürzende Neubauten e o ladrar dos cães. Pouco interessa porque o resultado transcendeu em muito as intenções expressivas de Latham. Da coesão que com elas veio e da fusão experimental de melodias retrospectivas, amostras sonoras industriais e descontinuidades rítmicas saiu uma peça de arte abstracta. Do cenário futurista apocalíptico de “Her” até à chiante sublimação de “Love Is Real”, curvando-se sobre si e expandindo para lá de si, Classical Curves merece ficar para a história e retratar o que bem entenderem. (Maria Pacheco de Amorim)
76. U. S. Girls, In A Poem Unlimited (2018)

Música pop sobre o papel da mulher, integrando elementos do soul e funk, seguindo as pegadas do músico Prince. Não, não estamos a falar de Janelle Monáe. Referimo-nos a In a Poem Unlimited, de U.S. Girls. (Um nome curioso, visto que o projeto é formado apenas por Meg Remy, que vive no Canadá). Remy tem claramente um propósito e uma mensagem a passar com In a Poem Unlimited, mas não ignora o resto. Porque parte importante do efeito do protesto é a forma do mesmo, a artista arranja novos formatos para expor a situação e é notável a preocupação que tem com a parte instrumental das canções. Remy escolheu falar por exemplos, contando histórias concretas da experiência feminina. Mesmo na raiva ou no desejo de vingança, o registo procura o diálogo, denunciando a causa destes sentimentos. Poem é um álbum cheio de vida, mas não se deixa seduzir por histerismos nem sentimentalismos. Remy mostra estar consciente de que isso poderia eventualmente distrair o público do seu propósito. O resultado? Um álbum relevante na luta feminista, cujo poder reside no reconhecimento da comunicação como a ferramenta de protesto e consequente mudança. (Pedro Picoito)
75. Lana Del Rey, Norman Fucking Rockwell! (2019)
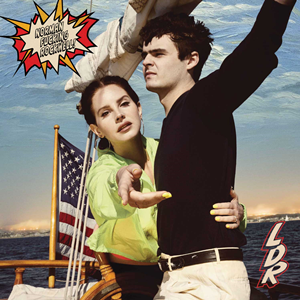
O título de rainha da polémica está certamente reservado para Lana del Rey. Desde o sucesso da noite para o dia de “Video Games” que a cantora tem sido duramente criticada, questionando-se múltiplas vezes a sua autenticidade, as mensagens das canções ou até mesmo se o seu nariz é natural ou resultado de uma rinoplastia. A influência de Born to Die na música pop é inquestionável, no entanto é em Norman Fucking Rockwell! que encontramos uma Lana del Rey verdadeiramente realizada e sem nada a provar, nem mesmo aos críticos. O lado menos vistoso da América e do sonho americano estão mais polidos do que nunca, sendo palpável o crescimento de canções como “Radio” para um dos marcos do álbum, “The greatest”. O seu percurso também é visível na última faixa, “hope is a dangerous thing for a woman like me to have – but I have it”, que segue a mesma linha de introspecção dos remates nos outros álbuns. No entanto, a rainha do sadcore parece ter encontrado formas mais convincentes de lidar com a típica tristeza do que em “Get Free” ou “This Is What Makes Us Girls”. NFR mostra-nos um equilíbrio entre a fragilidade e o controlo, que Lana bem evidencia na capa do disco. Acima de tudo, em Norman as qualidades da cantautora brilham sem que as suas falhas lhes façam sombra. Por fim, a mais influente compositora pop da década aprimorou o seu engenho, estando ao leme da sua arte e assegurando-nos que afinal Lana del Rey ainda tem muito para dar. (Pedro Picoito)
74. Crystal Castles, Crystal Castles (II) (2011)

Crystal Castles (II) revolucionou o conceito de música de dança para uma geração que viveu a sua adolescência durante os primeiros anos da década. O synth-pop de Ethan Kath e Alice Glass diferencia-se pela sua aura invernal, pelas linhas melódicas pop que sobressaem no cerne da sonoridade soturna. Sobre a produção do segundo álbum de estúdio da dupla canadiana, Ethan Kath explicou: “Gravei uma porção significativa do disco durante o inverno mais gélido em décadas, numa igreja sem aquecimento na Islândia. Estava tanto frio que, quando escuto o álbum, consigo ouvir o meu estremecimento. Tomei esta decisão porque me pareceu adequada”. Conseguimos senti-lo, nas fatias de música glitch e noise que complementam as melodias vocais de Alice Glass, tão longínquas quanto o nórdico e consumidas por distorção, saltando entre o grito tecnológico de “Doe Deer” e o mavioso canto de “Celestica”. Crystal Castles (II) encontrou um lar nos auscultadores da geração Y e o cadáver do seu auge repousa nas contas Tumblr, outrora pomposas e hoje abandonadas. A simplicidade pujante e a alma renovadora do disco de estreia, aliados à recém-adquirida acessibilidade pop, habilitaram o ouvido da juventude para as particularidades criativas da música alternativa, despertando nos milenares um espírito tribalista caracterizante dos nichos artísticos, o enaltecimento da diferença e, acima de tudo, a paixão ardente pela descoberta. Os vestígios do império deste álbum perduram em espaços tão distintos quanto a banda-sonora de séries televisivas escandinavas, círculos witch house ou na atenção ainda hoje recebida pelo single “Not In Love”, muito graças ao algoritmo do YouTube. Crystal Castles (II) contém em si um coração álgido, é certo, mas aqueceu o de muitos adolescentes com a sua repetição hipnótica e ritmos dançáveis. Ainda hoje nos forçamos a retornar a esta relíquia, intensificado o desejo de bater o pé ao som da saudade. (Diogo Álvares Pereira)
73. Kelly Lee Owens, Kelly Lee Owens (2017)

Escocesa mas baseada em Londres, Kelly Lee Owens, cantora, compositora, instrumentista e produtora é uma das mais promissoras representantes do universo techno-pop. Com um curriculum invejável de singles e EP’s publicados desde 2015, e colaborações de peso designadamente com o popular produtor, compositor e engenheiro Daniel Avery, Owens reuniu em 2017 algum do seu melhor trabalho até aí editado a par doutro inédito, no seu homónimo e brilhante primeiro álbum a solo. Atravessado por uma atmosfera sedutora e encantatória do tipo New Order em baixa rotação hipnotizados em noite de luar pela Julee Cruise de Badalamenti, Owens evidencia capacidades caleidoscópicas não só ao longo do álbum como internamente a cada faixa, frequentemente com dois e três estilos diferentes, aberturas lentas e etéreas, batidas 4/4 de seguida, doces melodias a fechar. A obrigatória utilização de sintetizadores dá espaço, contudo, a outros instrumentos mais exóticos, como tablas e pianos preparados, num colorido de marca. Confirmando a estrela em segura ascensão, temos algumas cerejas bem doces em cima de um já por si fantástico bolo, como a homenagem aos Massive Attack, “Keep Walking”, o dueto com Jenny Hval em “Anxi”, ou a bela faixa que condensa e resume todo o álbum, “Lucid”: “Different from the rest/ Don’t you see it?/ Where we ought to be/ Lucid, lucid”. (Rui Ribeiro)
72. Flying Lotus, Cosmogramma (2010)

Ao digerir por meio da música a perplexidade e sofrimento pela morte da mãe e, vários meses antes, da tia-avó, a famosa pianista de jazz Alice Coltrane, Steven Ellison não podia saber que estava a criar um dos álbuns incontornáveis da história do hip-hop instrumental, ao lado de Endtroducing… ou Donuts, para citar apenas duas das grandes inspirações de Flying Lotus. Cosmogramma não é de fácil assimilação e são precisas várias audições até que as faixas conquistem em nós a percepção da sua identidade, com o aparente caos sonoro a transfigurar-se no tempo numa musicalidade cheia de lógica interna e discreta emotividade. Sem nunca chegar a soar a um álbum de jazz, é inegável a influência deste género na composição das canções, com o seu evoluir errático ou sinuoso, coagulando-se febris em certos momentos, espraiando-se languidamente noutros. Nesta espécie de jazz digital, sons de videojogos, sintetizadores atordoantes e as vozes processadas de Thom Yorke ou Thundercat alternam com violinos e amostras sonoras da harpa da tia-avó ou mesmo dos ruídos do ventilador do quarto de hospital onde a mãe morreu, gravados para que esse espaço não fosse esquecido. Um tributo à dor e aos desaparecidos, Cosmogramma é uma jornada de apaziguamento e reencontro da harmonia. Abrindo, com o inicial trio de faixas, numa nota de enigmática entropia electrónica, ancorada num baixo jazzístico e reverberante, ao som de ritmos de house, o álbum vai progredindo por entre sons astrais e nebulosas de distorção suavizadas por sons acústicos de instrumentos de cordas, pratos ou amostras aquosas, até terminar na melódica nostalgia de “Table Tennis” ou no quase vitorioso canto da vida quotidiana que parece ser a “Galaxy In Janaki”, onde se misturam e redimem os sons dos últimos dias da mãe. São pedaços da vida o que Flying Lotus entrelaça na textura destas canções, tecendo um manto de memórias para que todo o mundo se lhe junte no choro e no riso. Que merece ser para sempre, prova-o bem o lugar aqui conquistado. (Maria Pacheco de Amorim)
71. Girl Band, The Talkies (2019)

Uma das artes mais enigmáticas do nosso tempo é a transformação do ruído em evento. O seu sentido é da ordem de qualquer outra forma de arte abstracta, exprimindo emoções e conceitos muito latos. Neste caso, o desbordamento e o domínio de um grito interior e de um elemento primordial da natureza. Para quem duvida que se trate de um ofício e não de pura casualidade ou instinto basta olhar para a carreira dos Girl Band. Desde o EP France 98, de 2012, que a banda irlandesa tem vindo a aperfeiçoar a criação destes eventos que, com um mínimo de material musical e montes de ruído industrial, nos fazem experimentar os abismos da mente e da modernidade. No centro destas sucessões atonais de fragmentos rítmicos, melódicos e distorção, cheias de tensão e precisas como uma sonata de Beethoven (vejam só as versões ao vivo, se não acreditam), está a voz de númen de Dara Kiely, tão hipnótica quão matizada, a dar vazão à angústia, ao pânico, à perplexidade, ao balbuciar do homem adulto diante de um universo que não compreende. Se o propulsivo Holding Hands With Jamie garantiu aos Girl Band o estatuto de banda de culto, referenciada por todos os grupos que constituem a tão badalada actual cena musical irlandesa, The Talkies cristaliza e consagra a sua identidade sonora e o sentido por ela comunicado. Marcando o regresso da banda de um prolongado hiato, devido à fragilidade da saúde mental de Kiely, o álbum distancia-se mais ainda das inspirações rock’n’roll e pós-punk dos Girl Band, transpirando-as só em breves reminiscências musicais que funcionam ironicamente no contexto do manicómio aural e existencial desenhado pelo ruído e pela reverberação. Mas o som da derrota constitui, paradoxalmente, a vitória desta banda que, saindo do silêncio, nos trouxe um dos grandes exemplos de arte musical performativa da década, capaz de crescer a cada nova audição. (Maria Pacheco de Amorim)
70. Los Campesinos!, Romance Is Boring (2010)

O grande trunfo de Romance Is Boring encontra-se na narrativa envolvente e no estilo literário de Gareth Campesinos! O vocalista de Los Campesinos! percorre um abrangente espectro de emoções com as suas letras e melodias vocais, navegando entre o charmoso e o grotesco, o enérgico e o apático. As comparações com Isaac Brocks do período The Lonesome Crowded West (1997) são merecidas, caso o ponto de partida seja a voz enquanto ferramenta do caos, uma infraestrutura instável à beira do colapso e os momentos de falsa serenidade que precedem o desastre. Gareth Campesinos! descreveu o terceiro álbum de estúdio da banda como sendo sobre “a morte e o decaimento do corpo humano, sexo, amor perdido, esgotamento nervoso, futebol e, ultimamente, a probabilidade da inexistência de uma luz ao fundo do túnel”. Os ganchos memoráveis e os refrães hínicos são colocados ao serviço da raiva presente nas entradas do diário do grupo. As tiradas mórbidas e metáforas futebolísticas amenizam as histórias de frustração amorosa, morte e desorientação espiritual. Todas estas contradições acabam por ganhar vigor com uma recém-adquirida tendência para a experimentação. A identidade twee-pop permanece (e de boa saúde, já que nas harmonias Gareth-Alekstranda Campesinos! reconhecemos o principal agente dinamizador das canções), porém fundida com segmentos pós-rock, pós-hardcore e emo. Seja na secção de sopro e na colaboração com Jamie Stewart na faixa introdutória “In Media Res”, no relato desportivo sincronizado com as pujantes guitarras em “(Plan A)” ou na paisagem desoladora do single “The Sea Is A Good Place To Think Of The Future”, embatemos com a versão mais arrojada e espontânea da banda até ao momento. Romance Is Boring consome-se como um romance decadentista (e nada aborrecido). A urgência na sonoridade, o impacto emocional da narrativa e a verborreia distintiva da juventude existencialista são apenas parte do magnífico ataque de pânico agridoce que é este trabalho. Um dos álbuns mais subvalorizados da década. (Diogo Álvares Pereira)
69. Lucy Dacus, Historian (2018)

Habituada a estar atrás da câmara e não à frente dela, Lucy Dacus é capaz de protagonizar a história que nos conta sem se deixar desvirtuar pela variedade de emoções que a perfazem, e o resultado disso é Historian, um registo coeso que, na sua intimidade, atinge um alcance global. Nada em Historian parece desmedido. A voz da artista surge sonora mas acolhedora. A bateria, a guitarra, o trombone e o violino que a acompanham destacam-se por vezes num crescendo pujante, só para rapidamente desvanecerem o seu ímpeto, dando lugar ao lirismo da artista. E a imensa dor associada a certas experiências é sempre recebida num tom clemente e esperançoso. Lucy destaca-se perante outras cantautoras femininas, que marcaram também a década, graças a este modo narrativo quase documental. Entre momentos contemplativos e instantes dotados de um ímpeto rockeiro, a artista mantem sempre o tom comedido, mas vigoroso. Pouco a pouco vai-nos sendo desvelado um mundo onde nem sempre parece possível encontrar um lugar, onde o medo da morte alterna com uma qualquer certeza (provavelmente herdada da avó) que lhe permite dormir descansada, onde é possível depararmo-nos com as nossas limitações, “Sweet relief, I will never be complete/I’ll never know everything”, e ainda assim respirar de alívio. (Margarida Seabra)
68. Jlin, Black Origami (2017)

Não deixa de ser fascinante que o florescimento de um género possa ser documentado numa mesma lista de melhores álbuns da década. Se Double Cup, de DJ Rashad, assinala um momento de perfeição da cena de footwork de Chicago, transportando-a à consciência nacional, Dark Energy (2015) da Jlin colocou-o na mira do mundo inteiro, talvez pelo travo global (pelos vistos, agora diz-se assim) que esta nativa de Indiana instilou na sonoridade. A versão pessoalíssima de footwork de Jerrilynn Patton atingiu, pelo menos durante os 2010, a sua própria perfeição em Black Origami, cujas colaborações explicitam a ambição e fôlego artístico de um género que, como todos os seus conterrâneos, veio das ruas e das competições de dança ao ar livre, onde ganham os pés mais desembaraçados a embaraçar o olhar. Mas, se nomes da vanguarda da música experimental como Holly Herndon ou William Basinsky abrilhantam a linhagem do álbum, convém reconhecer que a viragem do footwork à esquerda, com dimensões tão tribais quão de bailado contemporâneo, se deve exclusivamente ao génio autodidata de uma rapariga cuja história, do seu trabalho numa fábrica de aço até à criação de uma das sonoridades mais elegantes e futuristas da música pop da última década, parece saída do Flashdance. Black Origami abriu na realidade uma imagem sonora onde os arranha-céus das metrópoles americanas e a savana africana a perder de vista, as raízes ancestrais da música pop e o experimentalismo da música erudita contemporânea se tornam uma só coisa, numa visão de unidade e universalidade que dá corpo a um desejo profundo tantas vezes sufocado pela estreiteza do nosso olhar. Um desafio, to be continued. (Maria Pacheco de Amorim)
67. Julie Byrne, Not Even Happiness (2017)

Nascida em Buffalo, Julie Byrne principiou-se na guitarra com 17 anos, quando o seu pai deixou de o conseguir fazer devido à evolução da esclerose múltipla. Not Even Happiness começou a formar-se quando a cantautora abandonou o lar aos 18 anos e embarcou numa viagem que a fez passar por Pittsburgh, Northampton, Chicago, Lawrence, Seattle e New Orleans de guitarra a tiracolo. Combinando folk, new age e momentos esparsos de silêncio, o segundo registo traz-nos uma Julie solitária, bucolicamente deambulante e sonhadora. A voz profunda e serena envolvida pelo dedilhar da guitarra acústica, às quais por vezes se junta uma flauta errante, relata-nos observações de uma vida em andamento e a linguagem difusa fala-nos de relações platónicas e sonhos distantes. Apesar da sua condição nómada, a artista não romantiza a posição, assumindo por um lado o desejo de completar a demanda e a força de um peregrino, sem por outro abandonar o caráter errante da busca por um destino desconhecido do qual tem muitas dúvidas: “And I have dragged my lives across the country/And wondered if travel led me anywhere”. Na solidão dos cenários verdejantes e na imensidão azul do céu, a cantautora parece encontrar o seu lugar: “I was made for the green/Made to be alone”. Contudo, no seio desta contemplação da beleza natural, que a sua divagação proporciona, a artista apercebe-se de que aquilo que procura pode, afinal, ser encontrado num outro: “The one sense of permanence that I came to feel was mine/Only beneath your gaze”. (Margarida Seabra)
66. Destroyer, Kaputt (2011)

Dan Bejar sempre teve o objetivo de “começar do nada” cada álbum novo, o que levou à formação de uma discografia com uma enorme variedade de influências. Em Kaputt, o artista enveredou por uma onda mais jazzística, nomeando Miles Davis e os Roxy Music como principais inspirações. Pela primeira vez, o artista abandonou qualquer instrumento e focou-se unicamente na sua performance vocal, que vai sendo intercalada por longos solos de saxofone ou por uma atmosfera flutuante e esparsa guiada por sintetizadores longínquos. A sonoridade de Kaputt não deixa de provocar, à primeira, uma certa reminiscência de tempos passados e o tom descontraído e quase preguiçoso do baixo e da secção rítmica são responsáveis por alguma ansiedade inicial. Contudo, à medida que o registo vai avançando, vamo-nos deixando envolver por aquela atmosfera plácida e por vezes caricata (“Wasting your days chasing some girls, alright/ Chasing cocaine through the backrooms of the world all night”), mas que, como dá para perceber pelo videoclipe da faixa-título, é totalmente intencional e integra-se na atmosfera que Bejar pretende construir. Trata-se de um disco que só poderia pertencer ao projeto Destroyer, onde a regra de ouro parece ser a constante inovação, o que tanto pode proporcionar experiências um pouco ominosas, como agradáveis surpresas. Felizmente, Kaputt cai no segundo caso. (Margarida Seabra)
65. Giles Corey, Giles Corey (2015)

Por muito pouco que o segundo álbum de estúdio dos Have a Nice Life, The Unnatural World (2014), não lhes tenha garantido um lugar na nossa lista da década, já a presença do projecto a solo de Dan Garrett, Giles Corey, é imprescindível, mais ainda numa década assombrada por copiadores da era dourada de Bruce Springsteen no que diz ao respeito ao mundo do folk. Giles Corey segue uma via diferente do rebanho, enraizando-se na essência shoegaze dos Have A Nice Life e adoptando uma sonoridade slowcore despida até ao osso, construída com base na visceralidade do acústico. A opção estilística adequa-se à pessoalidade da narrativa, à solitude de Dan Barrett e ao seu derradeiro suplício por ajuda. O trabalho de mistura em Giles Corey transporta-nos para os confins da mente do artista. A imagética macabra paira pelo ar a cada segundo, os gemidos do autor violentamente consumidos por câmaras de reverberação e amostras de voz directamente encomendados do Inferno. Poucos álbuns ao longo da década assumem um percurso tão apegado à realidade depressiva do seu inventor e vemo-nos forçados, perante a brilhante sequência de faixas fúnebres e as histórias de vida após a morte, a imaginar tamanho sofrimento que possibilitou a criação da obra-de-arte em toda a sua plenitude. Giles Corey é um disco brutalmente franco e difícil de digerir, mas a sua existência deve ser revista como um exemplo de ressuscitação das cinzas tal qual Fénix. (Diogo Álvares Pereira)
64. Aphex Twin, Syro (2014)

Inicialmente mais interessado em produzir sons do que em fazer música, Richard David James era ainda criança quando se divertia a tocar, não nas teclas, mas nas cordas dentro do piano e a desmontar fitas e equipamentos de gravação. Sem qualquer tipo de educação musical, James aprendeu sozinho a explorar uma enorme diversidade de sons provenientes de meios tecnológicos, aventurando-se a modificar sintetizadores analógicos. Marcando presença como DJ em várias festas durantes os anos 80, o artista desempenhou um papel importante na música tecno e ambiental, estando também associado ao surgimento da IDM. O seu sexto álbum lançado como Aphex Twin incorpora tecno, synth-funk, breakbeat, acid house e jungle. Trata-se de uma experiência sonora de 64 minutos, que passa por momentos ritmicamente acelerados e quase unicamente percussivos, por instantes melódicos e dançantes culminando numa balada final protagonizada pelo piano e pelo som distante de alguns pássaros. Gravado em seis estúdios diferentes, incluído o que James construiu na Escócia, e com a ajuda de um engenheiro de som, que acompanhou o artista durante três meses, o álbum foi criado na totalidade em estúdio. Mais do que um grande marco inovador para o artista e para o género, Syro sobressai pela sua inesgotável diversidade, que passa pela capacidade de Aphex Twin explorar ao máximo cada pormenor que compõe cada faixa, surgindo ora com um toque melódico inesperado, ora com uma batida quase impercetível, mas que afeta a sensibilidade do ouvinte atento, ora inserindo uma voz humana distante e divagante. James afirma ter culminado uma era com Syro, garantindo que depois deste álbum já não tem mais nada a explorar aqui e que vai partir para outro lado. Não custa a crer, dada a diversidade de Syro, e nada como assinalar este fantástico fecho de um ciclo na vida do principal cérebro da música eletrónica inteligente incluindo-o na lista dos melhores álbuns da década dos 2010. (Margarida Seabra)
63. Cymbals Eat Guitars, Lose (2014)

Com as quatro letras do título estilizadas em maiúsculas, LOSE deve ter sido o primeiro álbum na história a consciencializar o público para o fenómeno deveras interessante envolvendo a palavra “lose”. O significado já é forte por si, mas quando “lose” é a única palavra num título, todo em maiúsculas, nota-se a verdadeira diferença entre Lose e LOSE: este último ganha vida e berra-nos na cara. É certamente uma pista para a principal temática do álbum. Em 2007, o guitarrista D’Agostino perdia o amigo e colaborador Ben High, com apenas 19 anos. Posteriormente em 2014, D’Agostino sentiu que finalmente conseguiria fazer jus à pesada temática e nela se focou para o terceiro álbum dos Cymbals Eat Guitars. LOSE parte desta tragédia e desenvolve-a de forma nostálgica, do ponto de vista de alguém que cresceu e sente que se perdeu. As letras são particularmente tocantes, graças à forma diarística como D’Agostino imortaliza momentos triviais da adolescência e as memórias com o amigo. Estilisticamente, no álbum encontramos a banda mais curiosa do que nunca, experimentando com elementos de produção variados e cobrindo um espetro maior de géneros musicais. A sonoridade típica da década de 80 não desapareceu, mas convive agora com uma secção de cordas em “Child Bride” ou com o cow-punk em “XR”. LOSE foi o penúltimo álbum dos Cymbals Eat Guitars, que entretanto se separaram discretamente em 2017. Ficou, no entanto, para a história este valioso testemunho de uma banda com uma visão única, evidente não só na sua abordagem idiossincrática e sincera a certos temas como o da juventude, como também numa sonoridade punk capaz de revitalizar o que, noutros de menor talento, não passaria de nostalgia.
62. La Dispute, Wildlife (2011)

Das frias e selvagens paisagens de Grand Rapids (Michigan), La Dispute conseguiram impôr o seu junvenil e dissonante pós-hardcore, recheado de ruidosos e monocórdicas declamações de desespero e revolta. Desde Vancouver (2006), e Somewhere at the Bottom of the River Between Vega and Altair (2008) o quinteto soube evoluir, e absorver outras influências, mais experimentais e até jazzísticas, espelhadas designadamente nos seus 7”, consolidando o seu perfil musical, por via de estruturas mais dinâmicas, arranjos e crescendos inteligentes, e textos mais refinados, mas sem qualquer concessão no que toca à violência dos seus espasmos de afirmação, por vezes quase declamados, a sua eterna water(wild)mark. Wildlife é o álbum mais significativo desta evolução dos La Dispute, com Jordan Dreyer mais seguro quanto dramático como líder e vocalista da banda. Dreyer que já era escritor e nunca tinha cantado antes de formar a banda com o seu primo e baterista Brad Vander, abre agora espaço para uma exibição mais coesa e orquestrada da sua banda, plena de ritmos tensos e guitarras carregadas de electricidade. A mensagem é amarga e amargurada, desde a crítica e desespero dos monólogos (“A Letter,” “A Poem,” e “A Broken Jar”), à dor e sofrimento perante a violência dos gangs (“King Park”), saúde mental (“Edward Benz, 27 Times”), ou a morte (“I See Everything”). Um dos marcos mais duros e épicos da década. (Rui Ribeiro)
61. Run The Jewels, Run The Jewels 2 (2014)
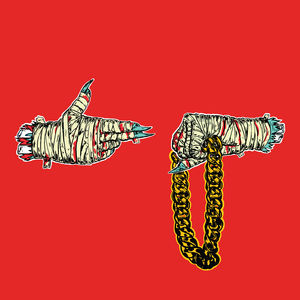
Os Run The Jewels conquistam o troféu de dupla hip-hop com mais garra da década. Em Run The Jewels 2, o grupo norte-americano constituído por El-P e Killer Mike encarna na sua cadência toda a determinação do hardcore hip-hop dos anos noventa. O trabalho de produção de El-P soa contemporâneo e dinâmico, transportando à velocidade da luz a atitude hostil dos N.W.A. e Run-D.M.C. para o panorama actual. Em “Jeopardy”, os instrumentos de sopro anunciam o abeiramento de um futuro épico do género. Mal começámos a escutar o disco, mas já o sabemos. A apressada e sinistra batida de “Oh My Darling Don’t Cry” segue-se e sobressai no lado negro da sonoridade uma realidade: os Run The Jewels carregam maquinaria pesada consigo… e não vêm para brincar. Vêm sim para confrontar, através das suas rimas provocatórias e instrumental compacto, tempos de instabilidade sociopolítica e repercussões violentas. O single “Close Your Eyes (And Count To Fuck)”, que conta com a voz activista de Zack De La Rocha, assim como a faixa “Early”, reflectem na ira lírica de Killer Mike e El-P o espírito insatisfeito do hip-hop politicamente consciente. “All Due Respect” convida o baterista dos blink-182, Travis Barker, a partir a loiça e a trazer à mesa as suas origens punk. Run The Jewels 2 é uma sequela mais frontal e agressiva, com berço nas formas hardcore das diferentes famílias musicais. É também um espectáculo impetuoso do início ao fim, encontrando na química entre Killer Mike e El-P, na sua versatilidade e poder rímico, o combustível necessário para galgar milhas. (Diogo Álvares Pereira)
60. Ariel Pink, Pom Pom (2014)

A incorporação de humor e sátira na sonoridade de uma canção sempre gerou controvérsia ou mesmo alguma indignação por parte da audiência mais niquenta. A adoração balanceia a desconsideração no que diz respeito à obra de Frank Zappa e Mothers Of Invention, The Residents ou DEVO. Chovem acusações de ignorância, apropriação cultural, desconsideração por movimentos de relevo para as comunidades visadas e o filme repete-se. Nesse sentido (e para quebrar um pouco a homogeneidade de pensamento), Ariel Pink é um espírito livre e, consequentemente, um alvo a abater pelo vigente autoritarismo contraditório. É de estranhar que o seu portefólio ainda não tenha sido vítima do “lápis azul” e não seremos nós a decapitar o autor iconoclasta. Aliás, torna-se complicado decapitar alguém que automutila a sua projecção pública de bom grado. Pom Pom prende-se entre a paródia e o pastiche, consistente do início ao fim e representativo do estilo único do músico. O hypgnagogic pop (baptizado por Ariel Pink’s Haunted Graffiti e influente para artistas como James Ferraro e Dean Blunt) e as colagens melodiosas trazem à memória estéticas em desuso, mais especificamente a vertente estapafúrdia, sempre divisiva, da década de oitenta. As lantejoulas, os penteados volumosos, o new wave de gosto duvidoso e os filmes B são sonoramente estilizados pelo compositor californiano, assim como a revolução sexual intrinsecamente associada a qualquer um dos elementos mencionados. Acorrentado à memória e, paradoxalmente, de coração independente, Pom Pom é um manguito em tons rosa-choque ao politicamente correcto, à severidade venenosa e ao próprio Ariel Pink, derrotado na essência e disfarçado de herói retro e piegas. No fim, só assimila a anedota quem realmente quer. (Diogo Álvares Pereira)
59. Laurel Halo, Dust (2017)

Não há dúvida de que a americana Laurel Anne Chartow, há anos sediada em Berlim e na Hyperdub, colocou a sua extensa experiência em diversos âmbitos musicais, desde a formação clássica em piano e violino ou o conhecimento de música eletrónica até à prática em bandas de jazz, ao serviço da desconstrução e reconstrução sonora que estão na origem de Dust. Pó é o que de facto sobra de todos os materiais a que Laurel Halo deita a mão, neste álbum onde são analisados e sintetizados os mais díspares sons que o mundo e a tradição musical podem oferecer. E, no entanto, a poeira fabricada e cimentada transfigura-se numa textura volátil mas densa, de onde tudo vai emergindo à superfície, como imagens que aparecem e pairam por instantes, para logo se desvanecerem. Fragmentos de arpejos de instrumentos de sopro ou cordas, campainhas, jogos de vídeo e avisos eletrónicos, amostras sonoras acústicas de metais, notas de baixo bolbosas e avulsas, batidas tecno, tudo se vai entretecendo e substituindo numa corrente sonora ininterrupta, assegurando um ritmo subterrâneo, confluindo por vezes melodicamente, deformando-se numa massa atonal, dispersando no vazio e ecoando no ar. Flutuando e entrelaçando-se neste caudal, o canto repetitivo e fantasmagórico de Halo desenterra da memória uma Sade de timbre agora mais robótico, assombrando-nos na sua insistência. É o ser que, tirado do pó, se adensa e rarefaz na procura de uma única certeza, coagulando-se numa única pergunta: “Do u ever happen?” (Maria Pacheco de Amorim)
58. Fleet Foxes, Helplessness Blues (2011)
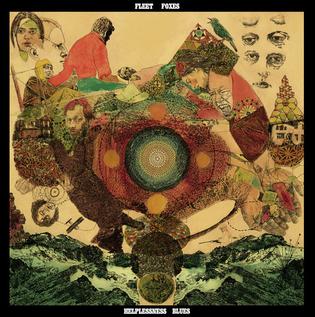
Depois de assumirem o protagonismo em 2008 com os lançamentos do EP Sun Giant e do álbum homónimo de estreia, os Fleet Foxes regressaram em 2011 com o triunfante Helplessness Blues. Com vontade de cimentar esse protagonismo no universo folk norte-americano, Robin Pecknold e companhia (onde se inclui um Josh Tillman que ainda se viria a tornar Father John Misty) trazem um disco liricamente mais intrincado e complexo do que o predecessor, mas que se expande nas melodias e na vasta palete de instrumentação e harmonias, fazendo de Helplessness Blues um álbum que nunca queremos que termine. A certa altura, Pecknold reflete sobre a sua condição individual e sobre um dia ser capaz de se conectar a uma realidade da qual fazem parte outras pessoas (“someday I’ll be like the man on the screen”). A vantagem de uma análise em retrospetiva, como é esta que aqui escrevemos enquanto escutamos Shore (2020), quarto álbum da banda, pela milésima vez, é a de poder dizer que Robin Pecknold chegou ao lugar espiritual que ambicionava alcançar. A prova de que Pecknold e os seus Fleet Foxes são um dos melhores projetos musicais da atualidade é que, daqui a uns anos, quando refizermos esta lista para uma nova década, os Fleet Foxes estarão lá outra vez. (Daniel Rodrigues)
57. Katie Dey, Solipsisters (2019)

“I was born inside this body and I’m stuck there/ I’m a storm inside a rotting false construction”, canta Katie Dey em “Stuck”. Os efeitos sonoros a que a cantautora australiana sujeita a sua voz – fragmentando-a, distorcendo-a e moldando-a a seu bel prazer no decurso de Solipsisters – são uma potente amostra das vantagens da era tecnológica na expansão e maximização das possibilidades criativas, demonstrando a utilidade do auto-tune enquanto ferramenta criativa e não apenas revisor de imperfeições. No caso de Katie Dey, a transfiguração da voz encontra-se interligada à narrativa de despersonalização que invade Solipsisters. Restringida à solitude do seu quarto e a métodos de produção lo-fi, Katie Dey desafia o paradigma do bedroom pop com recurso a uma densa camada de reverberação e sintetizadores. Tão densa que torna a lírica de Katie Dey imperceptível e distante. Este agregado de elementos musicais, frequentemente labiríntico, compele a audiência a manter um ouvido atento. No cerne da atmosfera glitch viajam ténues linhas melódicas, versos alimentados por descontentamento e desejo de libertação e, ultimamente, a ecdise de Katie Dey. Contrariamente ao seu par Alex G, que encontrou na aclamação crítica de DSU (2014) uma oportunidade de alargamento da sua base de fãs para lá dos limites do Bandcamp, Katie Dey ainda não deu um visível salto comercial e permanece, em grande parte, uma artista de nicho. No entanto, a assinatura de contrato com a editora discográfica norte-americana Run For Cover aquando do lançamento de Solipsisters e a ascensão das formas desconstruídas de música pop e eletrónica são factores que fazem prever uma abertura da porta do quarto de Katie Dey ao mundo circundante durante a corrente década. (Diogo Álvares Pereira)
56. St. Vincent, Strange Mercy (2011)

Annie Clark, esta virtuosa de guitarra e mais virtuosos penteados ainda, é um dos rostos emblemáticos da década. Não era preciso St. Vincent ter revelado que ouvia pelo menos uma canção de Bowie por dia. Tudo nela clama a influência do camaleão, com a sua sinuosa e heroica guitarra a encontrar digna vizinhança no espetáculo teatral de inúmeros disfarces e robótica coreografia. Mas se as influências são aparentes – como escapar ao travo dos Talking Heads ou ao malabarismo vocal de Kate Bush? – Annie Clark permanece ela própria, sintetizando todo um passado de canto e guitarra numa versão que não poderia ser senão sua. Veja-se como a voz art pop de Clark enerva, sugerindo e frustrando, a memória musical no início de “Champagne Year”, esboçando por instantes a “Hallelujah” de Cohen só para nos levar para lugares que o motivo inicial, iludindo-nos, não prometia. Se o álbum homónimo de 2015 transformou esta rapariga de Oklahoma numa estrela pop, daquelas que ganham Grammys e um lugar nas listas de final de ano, Strange Mercy permanece o seu registo mais indefinível e cativante, com o virtuosismo clássico da guitarra a conviver naturalmente com momentos de pura atmosfera. Nele, as canções divagam, criando as variadas paisagens nas quais se perdem, numa despreocupação com o ponto de chegada que lembra a lógica jazzística do rock progressivo da década de 70, mesmo se as melodias e a percussão enraízam a sonoridade no reino alternativo do punk, a nuvem de distorção que envolve a guitarra a proclamar bem alto onde está o coração de Clark. O nosso há muito que se rendeu a esta renitente chefe de claque e, goste ela muito ou pouco, aqui fica para a posteridade o seu mais dubitativo, e irresistível, enunciado. (Maria Pacheco de Amorim)
55. The World Is A Beautiful Place & I Am No Longer Afraid To Die, Harmlessness (2015)

Conhecidos pelo seu papel no renascimento emo que marcou o início desta década, juntamente com bandas como os The Hotelier ou Hop Along (cujos álbuns incluímos nesta lista como marcos incontornáveis), os The World Is A Beautiful Place & I Am No Longer Afraid To Die eclodiram em 2013 com Whenever, If Ever. Contudo, foi ao moderar o tom gritante e as paisagens sonoras um tanto caóticas, características do seu álbum de estreia, que a banda encontrou espaço para Harmlessness, uma fusão vibrante de emo, pós-rock e pop punk. Se, dada a volubilidade da constituição do grupo, pode ser difícil dizer ao certo quantos e quem são os seus integrantes, em Harmlessness não faltam à voz, aos sintetizadores, à guitarra, ao baixo, à bateria, ao trompete e violino uma clareza e distinção inesperadas. O monolítico screamo dos inícios conhece agora momentos de contenção em que, num suspense crescente, acompanhamos o solitário dedilhar de guitarra de Chris Teti, como na introdução de “Rage Against the Dying of the Light”. Ou instantes íntimos de violino cortados pela entrada da bateria, a alternar com troços épicos em que a voz angustiada de David Bello explode suportada por uma orquestra completa. “Change my life/Please, change my life”, ouvimos as vozes da banda a suplicar em uníssono no crescendo final de “Haircuts For Everyone”. É este desejo de mudança, mesmo consciente do quão árduo possa ser, que atravessa as várias batalhas que preenchem o álbum. E este mesmo desígnio faz-nos ouvi-lo, certos de que alguma conversão poderá dar-se também em nós. (Margarida Seabra)
54. EMA, Past Life Martyred Saints (2011)

Diz qualquer coisa da precariedade da vida que Past Life Martyred Saints poderia nunca ter visto a luz do dia. Quase tanto como o álbum em si, com o seu retrato da fragilidade e solidão num mundo que arrefece. Não faltam marcas da transitoriedade das coisas neste disco, onde latejam ainda os restos mortais, como as canções “Marked” e “Butterfly Knife”, da banda de folk-noise que Erika M. Anderson liderava até 2010. Depois de muita recusa, já quase de regresso à cave dos pais em South Dakota, a pouco conhecida Souterrain Transmissions aceitou gravar o material composto a solo por EMA, no tempo de incerteza que se seguiu ao fim dos Gowns. São graves e dolorosos os temas revolvidos em Past Life Martyred Saints, tão experienciados quão expressivos de uma geração flutuante, na vida e na internet. Problemas como o abuso de drogas, mas também de automutilação e aniquilação reflectem a insegurança já não apenas existencial mas também social, num mundo volátil onde as comunidades físicas se esboroam e tudo acontece no espaço anónimo, indiscreto e implacável, das redes sociais. Mas se os versos enraízam Past Life Martyred Saints no quotidiano mental da juventude milenar, a sonoridade é uma herança personalizada do rock alternativo da década de 90. A voz à Kim Gordon em “California”, o minimalismo percussivo de “Anteroom” a lembrar Nirvana, o ruído lo-fi de todo o álbum, o lirismo e composição inspirados por Lou Reed, tudo soa a uma importação da geração X. Que a fusão desta enorme disparidade de materiais soe a novidade é mérito de uma personalidade irredutível a transpirar e transcender o legado recebido. “I’ll comeback to you in another life”. Este álbum, podem crer. (Maria Pacheco de Amorim)
53. Brand New, Science Fiction (2017)

Não deixa de ser doloroso escrever sobre uma banda que já se separou, ainda mais se se trata do seu último álbum. Science Fiction foi o último registo dos Brand New que já planeavam e anunciavam o seu fim antes da chegada do álbum. Mas talvez a consciência de que este seria o último não tenha sido assim tão maligna, pelo menos não para a banda emo que abandonou sempre os palcos bem altos a que chegou, assim que lá chegou. Science Fiction reúne elementos dos seus antecessores, remodelando-os e surpreendendo-nos uma última vez. A guitarra acústica surge como elemento fulcral, que atravessa todas as faixas unindo-as e dotando o álbum de uma sonoridade mais country-folk. Nunca antes havíamos assistido aos Brand New tão tranquilos em relação ao seu envelhecimento e futuro. Aqui, aliado ao seu típico humor mordaz, sobressai o peso da sabedoria adquirida e uma maior seriedade em relação ao que espera cada membro da banda no futuro. Se em “Could Never Be Heaven” Lacey ainda se debate com dúvidas existenciais, que provavelmente nunca o abandonarão, o artista expressa também a confiança que tem na família que começa a formar, razão que também o levou a abandonar o projeto: “You are not alone/We are not separate/My daughter’s shoulders are my shoulders/ My son’s hands my hands/My wife’s heart my own heart”. A alternância entre momentos suaves e penetrantes e instantes regidos pelo ímpeto épico da voz de Lacey marcam mais uma vez este último registo. Os solos de guitarra de Accardi, que tanto definem a sonoridade dos Brand New, não deixam de estar presentes, bem como a produção de Mike Sapone, que acompanhou a banda desde o início. Tudo o que colocara os Brand New no nível antes alcançado reaparece em Science Fiction, só que agora com algumas mudanças que preconizam o fim de uma era. (Margarida Seabra)
52. Andy Stott, Luxury Problems (2012)

Um rápido passar de olhos pelo catálogo de Andy Stott e a uniformidade da arte de capa dos álbuns lançados durante a última década salta à vista. A hierática fotografia a preto e branco, progressivamente mais abstracta, assinala a descoberta de uma voz única no seio da música de dança mais experimental e ambiental. A partir da sua experiência com o dub, ao qual voltava sempre, depois de incursões pelo grime, house ou industrial, Stott começou, na linha de produtores como Burial ou Demdike Stare, a explorar as possibilidades expressivas do lado mais grave do espectro sonoro. Se em Passed Me By assistimos aos primeiros ensaios atmosféricos, em We Stay Together podemos já ouvir o emergir tentativo daquele motivo rítmico que será a impressão digital de Luxury Problems. Não deixa de impressionar o salto em sofisticação, elegância e controlo absoluto que se sente dos esboços para a obra que viu o cristalizar de uma nova identidade, com perfeição tal que, vários discos depois, é ela a aparecer aqui. Muito do mérito cabe ao canto de Alison Skidmore e da sua virtuosa manipulação por Stott. Em “Numb” é muito evidente o veio de Sade Adu e neo-soul que a voz traz ao álbum, dominando a superfície melódica das várias faixas, o lado mais elevado do espectro. Mas a profundidade de campo é dada pelo edifício que, abrindo na cave, desce pelos subterrâneos, para fazer subir à tona das entranhas o lodo dos graves, meticulosamente organizado. Amostras de sons industriais, às vezes viscosos, e soluços de vozes guturais em loop juntam-se a motivos chicoteantes, rotação nos carris ou escovas no subsolo, criando uma textura de baixo que leva a canção para a pista de dança, só para a desconstruir e abafar logo depois. Enigmático, tenso, ocupando o espaço entre a expectativa e a ameaça, o submundo do baixo sobrevoado pela ligeireza soul do canto fragmentário é, em Luxury Problems, como a banhista em pleno salto na capa, captada numa curva em luta instável com o quadro, eternamente periclitante no ar de que não cai. (Maria Pacheco de Amorim)
51. Denzel Curry, TA1300 (2018)

Goste-se ou não, o soundcloud rap tornou-se um dos subgéneros de hip-hop mais falados entre as comunidades alternativas da era tecnológica durante a segunda metade da década, com rappers como Lil Peep, Playboi Carti e Bones a assentarem a sua lírica alienada, alimentada por angústia juvenil da geração Z, sobre amostras de música emo. Em TA13OO, Denzel Curry pisa os terrenos do emo rap de modo consciente e com uma dose de ironia à mistura, colocando o instrumental atmosférico e abrasivo ao serviço da narrativa que nos é descrita no comunicado oficial que acompanhou o lançamento do teledisco do single “Clout Cobain”: “Ao longo dos três capítulos de TA13OO, Denzel explora tópicos como molestamento, as eleições presidenciais, fama, ódio, paranoia, vingança, amor, o actual paradigma da música e contos pessoais de experiências de quase-morte”. Sonoramente, a progressão de TA13OO assemelha-se a uma jornada psicótica e oscilante, a natureza das faixas unida pela entrega total e presença carismática do artista originário de Carol City. O estado norte-americano da Florida foi relevante na popularização da batida energética do Dirty South e a influência do género destaca-se em passagens específicas, contundentes, de TA13OO (ainda mais frequentes no seu trabalho posterior, ZUU (2019). Denzel Curry demonstra toda a sua versatilidade enquanto rapper ao longo do disco, a cadência e o timbre adaptando-se com destreza às exigências da paisagem sonora. É nesta polivalência artística que o rapper se eleva perante os seus pares. TA13OO possui, no instrumental alucinado e barras emocionalmente afectadas, mais vigor, mal contida paixão e ecletismo musical que todos os outros nomes de destaque dentro desta subfamília do hip-hop. No entanto, o carinho pela estética do soundcloud rap continua bem presente, sobretudo nos segmentos mais dramáticos do disco, onde Denzel Curry alia de modo exímio o seu pensamento divergente a tradições sonoras do emo rap. TA13OO está longe de ser um álbum perfeito, mas é nas suas belas imperfeições que nos deparamos com a força de vontade do rapper em refrescar o panorama do hip-hop contemporâneo, criando pontes entre estilos e superando as próprias referências já gastas de tanto uso. (Diogo Álvares Pereira)
50. Daughters, You Won’t Get What You Want (2018)

Depois de oitos anos afastados, assaltados pelo impulso de voltar a juntar a banda e lançar um álbum, não foi fácil reunir os vários membros dos Daughters num único local e começar a construir alguma coisa a partir do ponto em que tinham ficado. Verdade seja dita, em oito anos muita coisa muda e You Won’t Get What You Want, o fruto do reencontro da banda, marcou uma divergência significativa do estilo anterior dos Daughters, afastando-se de uma certa herança do mathcore e do grindcore que caracterizou os seus primeiros tempos, convergindo para uma sonoridade mais industrial, influenciada pelo noise rock. O quarto álbum da banda americana é o resultado de várias escolhas composicionais inovadoras e, como os próprios membros da banda assumem, resultantes de epifanias momentâneas. Envoltos numa dissonância hipnótica, somos transportados para um cenário urbano quase infernal, onde a secção rítmica assume uma insistência exaustiva e onde as guitarras e o teclado soam progressivamente mais distópicos e sombrios. A voz de Marshall vocifera impiedosa, “I’ve been knocking and knocking and knocking and knocking/Pounding and knocking and knocking/Let me in” e torna-se difícil para quem ouve não lhe abrir a porta, num misto de terror e curiosidade, provocados tanto por momentos de catarse dominados pelo rugir do vocalista, como por longos minutos com andamentos moderados, instrumentação industrial minimalista e destaque da bateria. (Margarida Seabra)
49. Purple Mountains, Purple Mountains (2019)

Não foi só Leonard Cohen, Lou Reed, David Bowie, Prince e Mark Hollis, entre muitos outros, que nos deixaram na década que findou. Quando mais se desejava e esperava de David Berman, aconteceu este seguir o caminho inverso. O seu testamento musical, não obstante as melódicas cores, nada tinha afinal de metafórico. A sua amargura dificilmente poderia ser melhor interpretada do que pela sua voz algo reminiscente do grande Johnny Cash em dia melancólico. E os seus belos poemas, ouvidos após a sua partida, já não só nos impressionam pela beleza poética como arrepiam de forma marcante pela tristeza, nostalgia e cruel solidão. Tanto o eloquente “Darkness and Cold”, como o tocante “I Loved Being My Mother’s Son” e sobretudo no belo poema de “All My Happiness Is Gone”, não podiam ser mais explícitos de uma angústia à beira do abismo e ausência da mais ínfima vontade de continuar. “The fear’s so strong it leaves you gasping/ No way to last out here like this for long/ ‘Cause everywhere I go, I know/ Everywhere I go, I know/ All my happiness is gone”. Os Silver Jews de David Berman e Stephen Malkmus publicaram 14 inesquecíveis álbuns até à dissolução da banda em 1998. Em 1999 David Berman publicou o seu livro de poemas Actual Air. Em 2020 ressurgiu, renovado sob a capa dos Purple Mountains, como esta pérola homónima, menos tradicional e mais perto da banda sonora do seu estado de alma, aliando à base dos Woods uma secção de metais, vibrafone e steel pedal sempre que necessário, e elevando a sua eloquência poética ao máximo. Um dos ícones da década, poucos meses antes de se tornar um dos seus melhores álbuns de culto. (Rui Ribeiro)
48. Hop Along, Painted Shut (2015)

De Filadélfia, a cantora, compositora e guitarrista Frances Quinlan deu os primeiros passos exercitando a sua idiossincrática voz, ao serviço dum indie-folk muito lo-fi, até formar em 2008 os Hop Along com o seu irmão e baterista Mark Quinlan. Painted Shut (2015), o segundo album da banda, é um dos melhores exemplos da década no que toca a indie-rock, com origens no punk mais cru e impulsivo, tendo conquistado lugar de relevo nas listas dos melhores álbuns de 2015. Mas a marca dominante dos Hop Along é sem dúvida a prestação vocal singular de Frances, hiper dinâmica, com tonalidades ácidas e amargas, perto do falsete sem nunca lá chegar, regra geral em ritmo stressado, por momentos com uma sincopagem quase ladrada, ora raivosa, ora amedrontada. Esta performance provocativa alinha com as líricas sombrias, sobre violência, pobreza, injustiça e corações despedaçados de Painted Shut, que Frances bem reflete na sua exasperante atitude e imagens acutilantes. Como em “Buddy in the Parade”, onde é impossível ficar indiferente à revolta patente na homenagem ao cornetista de ragtime Buddy Bolden (New Orleans), que tendo dado entrada num hospital mental aos 30 anos, lá morreu, só para ser depois sepultado num miserável cemitério: “Money, money, money don’t let you sleep/ Switching graves in the cemetery/ They buried you so many times/ Can’t find your body”. (Rui Ribeiro)
47. Earl Sweatshirt, Some Rap Songs (2018)

Depois do estatuto de culto alcançado com os álbuns Doris (2012) e I dont like shit, I dont go outside (2015), este foi um regresso ansiosamente aguardado de Earl Sweatshirt, o rapper que se destacou, acima da média, no meio do colectivo OFWGKTA (ou, simplesmente, Odd Future). Some Rap Songs, de 2018, é produto de um Earl amadurecido, igualmente assombrado, mas agora resolvido, ou pelo menos conformado, com a presença dos seus fantasmas. É um disco marcado pelo falecimento do seu pai, célebre poeta, cuja sombra sempre se fez sentir ao longo da discografia do rapper. Há, porém, um brilho diferente neste projecto, por oposição ao breu cultivado por Sweatshirt desde o início da década. Os instrumentais apontam para uma luz ao fundo do túnel, que fura a escuridão das letras do artista, e mesmo essas revelam feridas saradas, entre marcas e cicatrizes. Ainda é possível encontrar um conforto perverso na escrita – imersa em mágoa – de Earl, mas o incrivelmente dotado MC revela neste trabalho um vislumbre de um renascimento, uma vida depois de uma morte lenta e prematura (da alma), e surpreende-nos com versos e melodias que soam a esperança. São 25 minutos que não acabam, em que a viagem aparentemente curta parece não ter fim (nem queremos que tenha). E estamos a falar de apenas algumas canções de rap. Imaginem daqui para a frente, já com novos passos dados em Feet Of Clay… (Paulo Pena)
46. Björk, Vulnicura (2015)

A compositora islandesa Björk integra um corpus muito restrito de artistas dignos de se verem representados nas retrospectivas de três décadas diferentes. Relativamente aos 2010’s, não temos dúvidas de que o oitavo álbum de estúdio da artista é a amostra proeminente da sua consistência discográfica e incansável afronta à estagnação criativa, procurando reinventar-se a cada nova oportunidade e adaptando-se com destreza aos distintos panoramas musicais. Nunca descreditando o álbum-aplicação Biophilia (2011) e o mais recente Utopia (2017), a sonoridade madura e tocante de Vulnicura (latim para “cura para feridas”) espelha a autora no seu estado mais vulnerável, tendo o disco sido gravado posteriormente ao término da relação com Matthew Barney, artista visual e companheiro de longa data. Desde o lançamento de Debut (1993) que Björk sempre demonstrou estar um passo à frente dos seus pares na indústria pop. Heterogénea na sonoridade e instrumentação, atenta à frenética metamorfose do paradigma musical e cercada de autores vanguardistas que complementam a sua obra com recurso a diferentes técnicas artísticas, Björk empenhou-se, desde o início, em conceber uma fórmula de maximização das suas composições. No que diz respeito a Vulnicura, instrumentado por arranjos de cordas orquestrais e batidas eletrónicas, a co-produção e programação de Arca e The Haxan Cloak é a chave para o aperfeiçoamento da atmosfera orgânica e futurista, a certos pontos reminiscente de Homogenic (1997), que permanece inovador durante a corrente década e perante a soberania da música glitch. Vulnicura é a manifestação mais pessoal em quase três décadas desta alienígena das artes sonoras, descida à terra para sentir na pele a dor de uma separação amorosa e narrar os estágios de luto. Escutar Vulnicura é conhecer Björk na sua versão despida. (Diogo Álvares Pereira)
45. Julia Holter, Have You In My Wilderness (2015)

Julia Holter, compositora e multi-instrumentista baseada em Los Angeles, é descendente duma familia de músicos, tendo aprendido piano bem cedo, mercê duma formação clássica, influências que lhe abriram um caminho fértil em experimentalismo e colaborações de relevo, aliando pop, electrónica e música clássica, três fortes pilares nos seus álbuns de originais e algumas bandas sonoras onde deixou a sua marca. De álbum para álbum a sua música cresce, aliando um chamber pop delicado a uma riqueza literária que não se coibe de citar Virginia Woolf, Frank O’Hara, tragédia grega, ou até o musical Gigi de Vincent Minelli. Sem dúvida que o ponto mais alto de Julia Holter, na década passada, foi atingido com I Have You in My Wilderness (2015), num registo pop mais tradicional, onde o tom intimista favorece a exposição do seu talento mais proeminente, a bela e singular capacidade vocal. Com uma base country pop, sensual e bem orquestrada, pontuada por naipes de cordas e piano preparado, a clareza e o largo naipe de nuances da sua voz estão em plena conformidade com a elegância e frontalidade da escrita, ao longo desta coleção de pequenas histórias, sempre evidenciando os belos dotes vocais, a sua principal marca de água. A mesma água que percorre o imaginário, ora doce ora salgado, do seu portfólio de canções, como “Lucette Stranded on the Island” ou “Sea Calls Me Home”, onde o grito de Holter “I can’t swim!”, acompanhado do mesmo cravo de “God Only Knows” dos Beach Boys, nos impele em seu socorro, em pura empatia. (Rui Ribeiro)
44. Iceage, Plowing Into The Fields Of Love (2014)

Evitando entrevistas a todo o custo, quando inserido numa, Elias Rønnenfelt não nos dá mais do que aquilo que pedimos num murmúrio pouco percetível. É também bastante improvável virmo-nos a cruzar com alguma fotografia minimamente sorridente do artista, que abre Plowing Into The Fields of Love com a provocatória alegação, “I don’t care whose house is on fire/As long as I can warm myself at the blaze/Of burning furnish, cherished photographs”. Mesmo assim, há qualquer coisa de extremamente cativante neste vocalista letrado e na banda punk que lidera. Oriundos de Copenhaga, os Iceage juntaram-se quando tinham ainda 17 anos, eclodindo, em 2011, com New Brigade e, dois anos depois, com You’re Nothing. Se nos dois primeiros registos da banda já se começava a denotar o seu talento artístico, parte dele parecia obscurecido por uma produção (deliberadamente) confusa e por uma distorção um tanto hiperbólica. Em Plowing Into The Fields of Love, tingido de influências country-rock, a voz de Elias Rønnenfelt ascende de um rumor impercetível para se destacar frente ao todo impiedoso. Vemos surgir também o piano, que tanto dota certos momentos de uma grandeza épica, como serve de pretexto para uma mudança de tempo a meio da faixa, como em “How Many”. Acompanhar os Iceage em Plowing Into The Fields of Love, compelidos por um certo fatalismo (típico de jovens adultos que pensam sobre a vida a sério), dotados de um espírito inquisitivo acutilante, mas preservando alguma confiança no futuro, é sem dúvida melhor do que qualquer entrevista que lhes possamos arrancar. (Margarida Seabra)
43. Tim Hecker, Virgins (2013)

Só o trabalho de produção e a construção meticulosa das paisagens sonoras presentes em Virgins já mereceria uma posição de destaque na nossa lista da década, mesmo dentro de um panorama tão rico e variado quanto o da música electrónica da década de 2010, enriquecido pelos prós da era tecnológica na sua relação de proximidade com a indústria em questão. O álbum de estúdio do músico e sonoplasta canadiano Tim Hecker foi gravado em Seattle, Montreal e Reiquiavique ao longo de três períodos do ano de 2012, recorrendo a performances ao vivo. O lado orgânico sobressai na instrumentação à base de sopro, cordas e mesmo os sintetizadores soam datados, longínquos do cenário moderno. A experiência é puramente abstracta e nela revemos a nossa própria vivência, os sons que associamos a eventos no espaço e tempo. Tim Hecker recontextualiza incessantemente a nossa resposta instintiva perante a sua arte, jogando com a natureza e os estímulos sonoros do disco. As camadas sobrepõem-se, balançando entre o caos e a paz. Tim Hecker revela a sua mestria no departamento da música electrónica progressiva, desafiando as limitações da música digital nos tempos correntes. Virgins é a sua grande obra. (Diogo Álvares Pereira)
42. D’Angelo And The Vanguard, Black Messiah (2014)
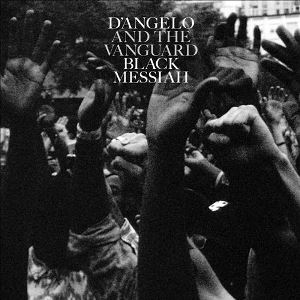
O lançamento de Black Messiah foi um dos momentos mais salutares e refrescantes da história recente da música pop, um choque que revolucionou a estação natalícia de 2014. Quando as listas de “final” de ano estavam já todas prontas para serem publicadas (nos tempos em que o ano ainda terminava por meados de Dezembro e não finais de Novembro), o grande e desaparecido membro fundador do neo-soul regressou com um dos marcos incontornáveis do género, seguramente o melhor da década. O último registo (e era só o segundo) de Michael Eugene Archer, Voodoo (2000), fora lançado catorze anos antes, quando a repugnância pela fama e redução a ícone masculino, depressão e espiral de degradação pessoal e profissional afastaram D’ Angelo dos palcos e do público. Há muito que Black Messiah vinha a ser prometido e esperado, versões inacabadas de algumas das suas canções já eram conhecidas desde 2007, mas D’Angelo conseguiu, ainda assim, lançar de surpresa o álbum semanas antes do planeado, como resposta às mortes de Michael Brown, em Ferguson, e Eric Garner, em Nova Iorque. Se tudo isto é matéria de lenda, o conteúdo merece bem o estatuto mítico da narrativa. Mais longe das raízes de R&B contemporâneo que caracterizam Voodoo, Black Messiah mergulha de cabeça na tradição funk, soul e gospel para sair do outro lado com uma sonoridade que, trazendo Sly & The Family Stone, Funkadelic, Marvin Gaye ou Prince à memória, nunca poderia ter sido composta senão na década cuja história ajudou a fazer. Sem estes heróis do funk nunca existiria uma “1000 Deaths”, mas o timbre da linha de baixo denuncia bem a música de dança, eletrónica, experimental e hip-hop que aconteceram entretanto. E assim com a mensagem proclamada por entre o controlado caos orquestrado pelo “R&B Jesus”. Em 2014, como durante o movimento dos direitos civis na década de 60 e agora em 2020 nos tempos do Black Lives Matter, um povo, mas também cada homem, espera a vinda de um Messias que conduza à terra prometida e nos liberte a todos do mal: “But you got to pray/ Oh you got to pray for redemption/ Lord, keep me away from temptation/ Deliver us from evil, oh yeah”. (Maria Pacheco de Amorim)
41. Danny Brown, Atrocity Exhibition (2016)

Não se deixem desmotivar pelo tom tresloucado ou pelos instrumentais desconcertantes de Danny Brown e do seu Atrocity Exhibition. Depois de uma série de trabalhos discográficos, o rapper de Detroit chegou, em 2016, ao seu álbum mais interessante, precisamente por se entregar por completo à sua loucura natural. Neste disco, atira-se de cabeça (sem medo de partir outro dente) a beats frenéticos, ruidosos, temperamentais, esquizofrénicos, e vai atirando versos descontroladamente, no mesmo registo, trepando esquemas rimáticos com flows excêntricos, à sua imagem e verosímil semelhança. Por baixo destas batidas alucinantes podemos encontrar de tudo um pouco. Desde o funk futurístico, imaginado pelos DJs dos anos oitenta, de “Ain’t Funny” ao rock de garagem de “Golddust”. Do boom bap, “chopado” em loops, de “Lost” ao trap agressivo, à la ScHoolboy Q, de “Pneumonia”. Da East Coast da própria “Lost” à West Coast de “From The Ground”. Destaque-se ainda o ponto alto do LP, em “Really Doe”, numa das posse cuts de maior nível desta década, a juntar Danny a Kendrick Lamar, Ab-Soul e Earl Sweatshirt. Venha o diabo e escolha o letrista mais infernal no que toca a incendiar papel. Ainda assim, e por incrível que pareça (ou nem tanto), é o rapper da equipa Golf quem apresenta o melhor handicap de versos, a terminar a faixa sem espaço para nem mais uma palavra. Com uma exibição atroz, Danny Brown atingiu desta forma o pico das suas qualidades singulares, com a paródia e a tragédia de mãos dadas (como se espera das mentes geniais) numa montanha-russa de sons, pensamentos, vozes. Ser diferente não significa ser bom, mas no caso de Danny, quanto mais diferente, melhor. (Paulo Pena)
40. The Hotelier, Home Like NoPlace Is There (2014)

As semelhanças entre o midwest emo e a quarta onda não se restringem à sonoridade DIY, uso (e abuso) de arpejos melódicos e proximidade com o math-rock e pós-rock, abdicando dos power chords que dominaram o emo dos anos 2000. A estética das capas, assim como o mito juvenil da cidade natal norte-americana retratado na lírica, são factores que auxiliam no reconhecimento de paralelismos artísticos entre estes períodos. Se a célebre residência de American Football (1999) descobriu em The Meadowlands (2001) um fiel discípulo na romantização das histórias de amadurecimento e redenção nos subúrbios, então Home, Like NoPlace Is There recuperou esta linha conceptual para expor a sua própria narrativa. Durante a década de 2010, The Hotelier não terão sido os únicos a estampar o selo da sua sonoridade em fotografias de alpendres desocupados ou janelas semiabertas. Todavia, no caso do segundo álbum de estúdio da banda de Massachusetts, a conotação parece-nos mais autêntica, autoconsciente e aficionada (sem nunca deixar de soar a si mesmo), beneficiando de audição repetida. A simplicidade melódica, os crescendos que terminam em refrães hínicos e o misto entre vozes contemplativas e gemidos catárticos ganharam força durante a década antecedente e, à primeira vista, não surpreendem. Porém, em Home, Like NoPlace Is There, as estruturas familiares tendem a crescer no coração do ouvinte, muito graças à narrativa de solidão e desgraça que servem. A confusão e o declínio mental do vocalista Christian Holden são controlados pela produção limada das faixas e a acessibilidade melódica reminiscente do pop-punk da terceira onda (“The Scope Of All Of This Rebuilding” e “In Framing”). Os versos sobre experiências abusivas com entes queridos tóxicos, perturbação emocional gerada no fundo do ser e eterna busca por salvação contrariam a musicalidade optimista. A complexidade do ser-humano e a tentativa de criação de ordem no caos encontram-se bem retratados na segurança criativa e nos contrastes estabelecidos entre sonoridade e lírica. Home, Like NoPlace Is There não pretende mudar o jogo. Pretende, isso sim, tirar lições dos seus ídolos e aplicá-las num contexto pessoal. (Diogo Álvares Pereira)
39. FKA Twigs, Magdalene (2019)

Cantora, compositora, produtora, dançarina, coreógrafa, realizadora, tudo na primeira pessoa do singular, é obra e notável. E se tal confluência de predicados de Tahliah Barnett (aka FKA Twigs), não fosse já só por si motivo para paralelos, há depois aqueles momentos em que a sua voz nos evoca nostálgica e deliciosamente a grande Kate Bush. Com raízes Jamaicas, Tahliah Barnett cedo rumou a Londres para ser dançarina. Mas os seus dotes vocais e cénicos, ao serviço duma imensa força de vontade e gosto vanguardista, impuseram-se e em 2012 gravava de seguida EP1 e EP2, produzidos por Arca, que conduziram a LP1, o seu primeiro álbum, logo nomeado ao Mercury Prize de 2014. Carreira lançada, é contudo em 2019 que é publicada a sua obra maior até à data, Magdalene. A batida forte habitual, impregnada de eletrónica experimental, industrial e R&B, dá lugar em Magdalene a uma sonoridade mais aberta e singular, mais afastada das classificações habituais, com mais espaço para melodias minimalistas e sobretudo às muitas e belas oitavas da sua invulgar voz. Os temas são apuradas e sensuais, questionando o amor, a dor e o sofrimento físico e emocional (marcada por uma dolorosa operação ao útero e o fim duma longa relação). O nome do álbum provém aliás da dualidade e resiliência feminina encontrada na figura bíblica de Maria Madalena. O resultado é um album coeso, pleno de inversões positivas, fragilidade e força, sofrimento e prazer, muito bem sublinhadas pela súbitas inflexões e flexibilidade da sua voz. Desde a distorção aveludada de “Home with You”, ao pesadelo iluminado de “Thousand Eyes”, à pureza sensual de “Sad Day”, temos a terminar a obra prima “Cellophane” (Why don’t I do it for you?/ Why don’t you do it for me?/ When all I do is for you?), também ela seguramente uma das melhores canções da década. (Rui Ribeiro)
38. Nicolas Jaar, Space Is Only Noise (2011)

Em toda a sua magnificência introvertida, dotado de uma progressão artisticamente imprevisível e sempre excitante para o ouvinte compenetrado, o álbum inaugural deste artista chileno-americano podia muito bem servir de banda-sonora oficial para uma intrigante longa-metragem. Space Is Only Noise representa a estreia promissora de Nicolas Jaar, um dos nomes na vanguarda do microhouse contemporâneo. O compositor mudou-se aos dois anos de idade de Nova Iorque para Santiago do Chile e a convivência com diferentes culturas encontra-se espelhada na amálgama de sonoridades e tradições histórico-culturais que integram Space Is Only Noise, tal como a melancolia e a ânsia pela aventura que enchem a alma de qualquer viajante apaixonado. A influência do tecno minimalista produzido pelo compatriota Ricardo Villalobos evidencia-se em alguns segmentos construídos com base na repetição, é certo. Porém, Space Is Only Noise não é o álbum ideal para agitar o corpo na pista de dança. Os padrões rítmicos hipnóticos existem e oferecem profundidade à experiência, mas a verdadeira essência das faixas situa-se na linha melódica, na conjugação de programação e instrumentação orgânica e na acessibilidade pop adoptada pela música experimental. A música de Nicholas Jaar transcende géneros, metamorfoseando-se no espaço e tempo. As texturas subtis e simultaneamente vigorosas preenchem progressivamente o vazio inicial, bebendo do dupstep, soul, jazz ou electro-pop. Para complementar, o artista entrega-se de corpo e alma ao disco, recorrendo à penetrante voz para embalar o ouvinte. A criatividade borbulha em Space Is Only Noise e a juventude de Nicolas Jaar é a única culpada. A paixão pela experimentação nasce desta mente impaciente e da intrepidez que lhe corre nas veias. (Diogo Álvares Pereira)
37. Grimes, Visions (2012)

Como no caso de outros músicos destinados a serem os rostos desta década, cujos nomes e singles trarão logo os 2010s à memória, não foi fácil escolher o álbum da Grimes que melhor representa o seu trabalho e impacto histórico. Mas, embora Art Angels (2015) seja possivelmente um dos melhores discos pop dos últimos dez anos, com canções inesquecíveis como “Kill V. Maim” ou “REALiTi”, tivemos de nos render ao mais experimental dos álbuns de Claire Boucher, uma escolha sempre discutível. Esta canadiana de Vancouver irrompeu em 2012, numa paisagem musical eletrónica já saturada, com uma das fusões mais certeiras de composição cerebral e musicalidade irresistível. A actual celeuma em torno da figura de Grimes, da relação com Elon Musk e do nome impronunciável do filho, tende a ofuscar o inegável talento desta multifacetada compositora e produtora. Recuemos contudo até aos tempos mais subterrâneos e independentes de Visions, o disco que assinalou a entrada de Grimes na 4AD e no consciente colectivo. Qualquer álbum que contivesse um par como “Genesis” e “Oblivion” estaria já destinado à eternidade. Sem nunca soar a krautrock, as referências de timbre, melodia e batida todas no synth-pop e hip-hop que definiriam a nova década, qualquer coisa no andamento destas canções suscita o sentimento de progressão rítmica do género. O teste é que, sendo impossível não mover o corpo inteiro em vez de apenas os pés, o habitat destas canções não é a pista de dança e sim o carro, prego a fundo na auto-estrada. Mas como o atesta, já mais para o fim, o novo fantástico par de “Symphonia IX (My Wait Is U)” e “Nightmusic”, a voz de Grimes, desde a cantautoria ou sussurro natural até às modulações anime, os ritmos infecciosos e as melodias tão atractivas quão difíceis de cantarolar perpassam todo o álbum, para vir um dia mais tarde a atingir todo o seu poder em Art Angels. O encanto particular de Visions, no entanto, é precisamente a contenção a que todo este talento pop é submetido, em canções cuja forma mais experimental e momentos de pura atmosfera, se tornam árdua a conquista da identidade, oferecem um desafio auditivo que promete transformar a aposta em afeição. Bem-vindos à realidade onde é o álbum da génese, e não o da fama, que salva do oblívio. (Maria Pacheco de Amorim)
36. Godspeed You! Black Emperor, ‘Allelujah! Don’t Bend! Ascend! (2012)

Por vários membros da banda se apresentarem como anarquistas, por o grupo ter sido confundido por um conjunto de terroristas quando estava em digressão e talvez pela insistência da própria banda em que encarássemos algumas das suas faixas de um ponto vista político, há alguma tendência para tentar encontrar em Allelujah! Don’t Bend! Ascend!, sinais de uma intervenção política ou vestígios de uma sátira às eleições que decorriam aquando o seu lançamento. Contudo, quem envereda por estes caminhos, está claramente a falhar o ponto que faz com que os Godspeed sejam uma das maiores bandas de culto pós-rock. Escutar o grupo experimental canadiano, não se resume aos seus slogans políticos, aos seus títulos com referências um tanto agressivas ou às suas constatações da destruição global. O que os Godspeed nos oferecem é arte que, carregada de uma pretensão universal, não suscita obrigatoriamente em nós, por muito que sejam essas as inspirações da banda, imagens de cenários destrutivos e anti-capitalistas. Allelujah! Don’t Bend! Ascend! é talvez uma das maiores obras dos Godspeed, onde a banda nos oferece aquilo que tem de melhor – a capacidade de provocar em nós noções de grandeza e magnificência, partindo de sentimentos de decadência e perda, através da dádiva do ruído. Concebida a partir de um fragmento vocal de abertura, lentamente substituído por uma guitarra orientalizante, “Mladic” surge sombria e ameaçadora, construindo-se lenta e estridentemente. Já “We Drift Like Worried Fire”, a outra faixa que dura também cerca de 20 minutos, desenrola-se ao longo de um zumbindo baixo e crescente que chega a atingir um pico de ruído agudo, culminando num final dilacerante, onde em oposição a qualquer cenário destrutivo, parece-nos avistar a esperança e ressurreição espelhadas no título do álbum. As duas faixas mais curtas do registo, “Their Helicopters Sing” e “Strung Like Lights at Thee Printemps Erable”, são evidências do quanto a textura das suas composições não deixa de ser uma preocupação para a banda, imersa naquela nuvem de som. A experiência sonora em que consiste o álbum dos Godspeed conduz-nos para bem longe do tumulto político e das lutas reivindicativas, levando-nos a imergir num complexo extraordinariamente estrondoso e arrebatador. (Margarida Seabra)
35. Black Midi, Schlagenheim (2019)

Eis a banda que promete revolucionar o panorama da música rock ao longo dos próximos anos, encerrando a década passada em força com o megalómano disco de estreia Schlagenheim. Se grande parte dos grupos sonoramente renovadores associados à editora discográfica Speedy Wunderground (Squid, Black Country New Road) começaram a conquistar tanto a atenção da audiência apaixonada pela música de guitarra com uma vertente mais aventureira e vertiginosa, como da crescente falange de profetas da “morte do rock”, uma nota de agradecimento deve ser entregue aos black midi, nome de destaque na cronologia da Speedy Wunderground. O jovem quarteto britânico descobre no despedaçamento radical das formas de arte mais tradicionais toda a essência das suas sessões de improvisação. Schlagenheim é o manifesto inaugural destes camaleões sonoros, estudantes na BRIT School e aficionados por jazz livre. As influências de géneros de nicho prevalecem: math rock nos compassos pouco usuais; pós-rock nos segmentos atmosféricos que antecedem as arrasadoras explosões de ruído; pós-hardcore na garra dos instrumentistas, na constante sensação de urgência que domina as faixas. Todavia, a química partilhada pelos guitarristas Geordie Greep e Matt Kelvi, o baixista Cameron Picton e o baterista Morgan Simpson é o factor que garante a coesão de Schlagenheim. Este disco nasce da violenta colisão entre quatro mentes criativas e uma paixão ardente pela música, pura e simplesmente. O estatuto de álbum de culto já se encontra assegurado desde a data de lançamento de Schlagenheim. (Diogo Álvares Pereira)
34. Deafheaven, Sunbather (2013)

A tendência do jornalista de música para catalogar, com precisão, tudo o que lhe chega aos ouvidos enfrenta um poderoso obstáculo nos grandes álbuns de fusão. Quando as definições já existentes não fazem justiça a obras tão multifacetadas e resultantes de diferentes tradições, o forçado encaixotamento do álbum assume a forma de um exercício de preguiça e, ironicamente, acaba por demonstrar alguma falta de critério. A solução do jornalista de música no combate a este contratempo? Claro está, elabora uma nova definição. O termo “blackgaze” tornou-se proeminente no curso da última década e muito graças à sonoridade dos Deafheaven. Em Sunbather, deparamo-nos com o exemplar mais ilustre desta mescla de shoegaze e black metal. A aliança entre o esplendor da vida e a desolação, o caos emocional pintado no delay e reverberação das mastodônticas guitarras de Kerry McCoy, nos brados de George Clarke e na percussão explosiva de Daniel Tracy. Garra não falta na instrumentação do álbum, muito menos nos seus contrastes criativos. Escondidas por entre as camadas da parede de som encontram-se deleitáveis melodias. Uma certa acessibilidade pop reminiscente do rock alternativo é ofuscada pelo noise e drone, apalpando na escuridão. Mesmo as dinâmicas pós-rock podem ser escutadas na estrutura de Sunbather, evitando o gosto duvidoso com recurso à subtileza e dispersão. Torna-se impossível dissociar a atmosfera do segundo disco dos Deafheaven de uma vincada corrente estética do espírito da época: melancólico nos seus tremolos, intensamente saudoso e romântico. Todavia, a banda de São Francisco sobressai no catálogo dos actos nostálgicos pela sua capacidade de conversão da bruta emoção em algo autenticamente belo e, acima de tudo, único. Existe uma real busca por perfeição em Sunbather. Coabita com os demónios internos dos seus autores, a insegurança e a desorientação presentes nos samples dos interlúdios. Existe um sonho no cerne do álbum, no sol abrasador que converte a visão em tons pastéis rosa e laranja: “I’m dying/ Is it blissful?/ It’s like a dream/ I want to dream”. (Diogo Álvares Pereira)
33. Chromatics, Kill For Love (2012)

Dizer que os Chromatics têm uma história contorcida e um catálogo perto do caótico é pouco. Desde 2014 que estamos à espera do sucessor do Kill for Love e o que veio, entretanto, não era o Dear Tommy. Quando este finalmente chegar será já tão diferente do anunciado ou os tempos já tão outros que bem nos podemos interrogar acerca da relevância de manter o nome ou usar expressões como “mesmo álbum”. Entre a confusão de singles que saem, são retirados e reaparecem, EPs de versões e remisturas, anúncios de álbuns que não vêm e álbuns que vêm sem anúncio, diz muito de um disco que uma banda fique indelevelmente associada a uma década só por força sua. Muita da omnipresença da banda de Adam Miller na década dos 2010 deve-se à voz de distante e melancólica diva de Ruth Radelet e à discográfica, projectos vários, bandas sonoras de filmes icónicos (Driver vem logo à mente) do produtor Johnny Jewel, mas nada disso teria tanto poder sobre o imaginário colectivo não fora a indefinível estranheza do animal que Kill For Love é. Para um álbum de synthpop tão atmosférico é impressionante quão analógica na realidade é a sua sonoridade, vindo quase tudo do timbre e diálogo das várias guitarras e da bateria. A forma das canções, com o seu minimalismo e lento progredir, a presença de amostras de atendedores de chamadas ou aguaceiros e de faixas, como “Broken Mirrors”, puramente ambientais ou cinematográficas aproximam este disco da música electrónica experimental. Mas o destacado decidido das guitarras e a energia da bateria enraízam a sonoridade no rock e, mesmo se “Kill For Love” e “Back From The Grave” são as únicas canções que talvez funcionem na pista de dança, o ambiente de néons, clubes e becos citadinos nunca anda longe, esboroando os traços dream pop do álbum. Em Kill For Love tudo assume uma forma para se dissolver noutra coisa, como o travo angélico de Radelet, sugestivo das divas do disco ou shoegaze, é corroído pelo seu contralto, tristeza e voz de cantautora. Talvez no fundo este álbum não seja muito diferente da banda que o criou. Incapaz de jogar as regras do jogo ou satisfazer expectativas, enigmática e inacessível por detrás do verniz pop cor-de-rosa, nunca completamente deste mundo, sempre fora do tempo, à espera de alguma coisa que nunca vem. Como nós do Dear Tommy. (Maria Pacheco de Amorim)
32. Mitski, Be The Cowboy (2018)

A década dos 2010s foi seguramente uma década de música pop. E, embora acreditemos que a sua aclamação tenha sido por vezes exagerada e mal fundamentada, o fenómeno mostrou que, por norma, os trabalhos mais interessantes vêm das zonas de fronteira. É o caso de Be the Cowboy, um dos álbuns pop da década, e que outro artista poderia misturar tantos géneros diferentes num só registo que não Mitski? A versatilidade é uma qualidade da nipo-americana, e o resultado é que não há duas canções iguais no alinhamento (mostrando também as diferentes cores que uma relação amorosa pode tomar). As faixas são curtas, mas todas breves explosões, que consomem qualquer ouvinte, seja de espanto, surpresa ou até mesmo arrepios. Mitski assegurou o seu lugar como uma das grandes compositoras do tempo presente, e fez-nos acreditar que o será por muito mais. Essencialmente, Be the Cowboy obriga a várias reflexões. Para além de um ponto de vista único no que toca ao amor, Mitski questiona o que é um álbum e o que o define. Será a coesão sonora? Ou um tema unificador é suficiente? Quantos géneros diferentes cabem num único registo? E que fronteiras têm estas gavetas musicais? Com várias faixas abaixo da marca dos dois minutos, a artista desafia também a noção de canção. Uma faixa com um minuto e meio é uma canção ou um interlúdio? Qual a diferença neste caso, uma mera questão de duração? Numa década em que a contestação destas barreiras foi central, Be the Cowboy é certamente um dos militantes mais notórios. (Pedro Picoito)
31. Bill Callahan, Apocalypse (2011)

O talento de Bill Callahan já há um par de décadas que era conhecido. Ao longo dos 2010 foi-nos deixando várias provas disso, e sem dúvida que em Apocalypse atingiu um ponto alto. O álbum é o epítome tanto da figura de Callahan como dos géneros que este tem explorado, predominantemente folk e americana. A sua característica ironia, a raiar o absurdo, apresenta-se especialmente irresistível (é impossível ouvir o registo sem soltar uma gargalhada aqui e ali, ou durante todos os cinco minutos e meio da caricata “America!”). Dentro de um género que prima pela genuinidade, Callahan sempre se destacou, mas em Apocalypse a sensação de proximidade com o ouvinte é imensa. Quando munidos de uns bons auriculares ou sistema de som de qualidade, é como se o artista estivesse na sala connosco, a sua respiração audível, como se o delicado dedilhar das guitarras estivesse mesmo ali ao lado, como se Bill Callahan fosse um companheiro próximo. Esta intimidade talvez seja conseguida pela naturalidade presente nas composições, não havendo medo dos momentos constrangedores, que nas mãos de outros não tão competentes seriam facilmente ridicularizados. Se nestes círculos as letras e as narrativas tendem a ser impressionantes, Callahan vai, uma vez mais, ainda mais longe. Um contador de histórias nato, e filósofo a tempo inteiro, as suas canções agarram-nos e fazem-nos pensar. Isto é sentido doutra forma quando chegamos a “One Fine Morning”, o final meditativo do álbum. O seu andamento lento é o ideal para refletir juntamente com Callahan, que por essa altura é já um amigo. Bill Callahan nunca tentou que as suas composições fossem acessíveis, e por essa razão é preciso persistir para se tornar um fã. Mas não há dúvida que as suas qualidades musicais e a dimensão existencial presente no seu material não deixa ninguém indiferente. (Pedro Picoito)
30. The National, High Violet (2010)

Longe vão os tempos em que os National emergiam na cena alternativa de Brooklin, iniciados no seu garage rock agressivo e impetuoso, revelando já claros laivos de génio criativo. De forma segura e decidida foram evoluindo, em doses variáveis de country-rock alternativo, americana, chamber pop e post-punk, deixando pelo caminho uma mão cheia de fabulosos álbuns, e ganhando admiração e respeito por muitos, e em especial pelo espírito progressista, na música como na vida. Ainda hoje sentimos genuína pele de galinha, a resposta mais espontânea e sincera do corpo humano perante o sublime, aos primeiros acordes de “Fake Empire”, o hino da campanha de 2008 de Obama. De influenciados em 2000, os National passaram por mérito próprio a influenciadores omnipresentes, ora via coletivo ora através dos seus elementos individuais, num caleidoscópio de colaborações e produções de primeira água na cena musical alternativa. Numa década pródiga em bons álbuns editados pelos National, bem podíamos também ter elegido Trouble Will Find Me (2013), mas foi High Violet (2010) que mais nos tocou, talvez por ser o álbum que melhor reflete, não só o afastamento do quinteto das suas ainda próximas influências mais rústicas, mas também por ser aquele que melhor evidencia a chegada da sonoridade mais aberta, sem receio dos arranjos mais orquestrais enquanto pano de fundo a uma lírica mais literária como da voz cada vez mais marcante de Matt Berninger. High Violet é um baú que transborda de jóias valiosas, como “Afraid of Everyone”, “Lemonworld”, “Conversation 16”, o épico “England” ou mesmo o sombrio cair do pano “Vanderlyle Crybaby Geeks”, mas a pérola que mais brilha, “Bloodbuzz Ohio”, é também aquela que traz talhada a mensagem que os distingue do bom sonho americano de Born To Run – “I still owe money to the money/ To the money I owe”. Como diria Obama, Yes They Can. (Rui Ribeiro)
29. Fontaines D.C., Dogrel (2019)

Os Fontaines DC são uma das bandas que surgiram na esteira dos Girl Band e afirmam ter-se inspirado na sonoridade veemente dos seus conterrâneos e no seu “espírito excêntrico”. Inseridos na cena punk e pós-punk que começou há uns anos a brotar no Reino Unido, em pouco tempo a banda alcançou um lugar ao lado dos IDLES na Partisan Records. Reunidos pelo fascínio pela poesia de Joyce e da Beat Generation, o grupo de amigos lançou dois conjuntos de poemas da sua autoria. Agora, como banda, a poesia jaz nas suas letras e faz deles e do seu álbum de estreia um artefacto da década. É com orgulho que a banda irlandesa ostenta a sua herança em Dogrel, discorrendo sobre a capital no seu sotaque cerrado, em versos carregados de referências e marcos regionais (a começar pelo título do álbum). Mas se parecem encantados com o passado irlandês, é sobre a situação contemporânea da cidade que tecem as mais acutilantes críticas. “A sell-out is someone who becomes a hypocrite in the name of money”, declama Grian Chatten no inicío de “Chequeless Reckless”. Contudo, mais do que uma investida contra a injustiça social, o que atravessa o álbum é uma preocupação existencial com o rumo do mundo moderno regido pela mentalidade consequencialista, porque afinal, “money is a sandpit of the soul”. (Margarida Seabra)
28. Fiona Apple, The Idler Wheel… (2012)
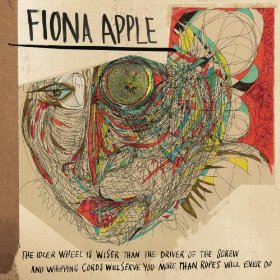
Apesar de ter atingido sucesso universal aos 18 anos, com Tidal e a controvérsia do seu single “Criminal”, Fiona Apple sempre fez as coisas à sua maneira. Como resultado disto, talvez tenha passado ao lado de uma carreira astronómica, mas é certo que o interesse da crítica pela artista só tem aumentado desde então, mesmo quando os longos interregnos entre registos já lhe são característicos. The Idler Wheel… foi o único álbum que a americana lançou na década inteira, e que álbum. Dentro de um catálogo excecional, este destaca-se, estando o sentido de humor de Apple mais cortante do que nunca, as composições, letras incluídas, ainda mais ambiciosas e o seu típico caos como nunca o tínhamos visto. A imprevisibilidade impera, a cada dez segundos temos uma nova surpresa. O piano recebe o mesmo tratamento que a voz, mas em The Idler Wheel… o talento para a composição é percecionado como também ele um instrumento, e bastante central. Quase vinte anos depois do início tumultuoso da carreira, a cantautora voltou a provar que como ela há poucos e que o seu material certamente não é para todos. Mas, como ela própria diz, “I don’t appreciate / People who don’t appreciate”. Fiona Apple não quer muito saber. (Pedro Picoito)
27. Alex G, DSU (2014)

DSU é o quarto álbum de estúdio de Alex G e um acrónimo de Dream State University. O título deriva de um comentário proferido pela irmã do músico natural da Pensilvânia: “Perguntei à minha irmã como se deveria chamar o álbum e ela sugeriu-me alguns nomes. Um deles era Dream State University, pois eu havia-lhe mostrado algumas canções, tendo ela realçado a sua atmosfera fantasista”. As treze faixas que compreendem DSU soam à abordagem lo-fi do indie rock de Elliott Smith e Mark Linkous com influências de música eletrónica da era digital. A magia nostálgica de DSU não se resume à sonoridade etérea. Também a sua divulgação evoca outros tempos, adaptados à realidade do novo zeitgeist: Alex Giannascoli pode agradecer à comunidade web toda a aclamação crítica e atenção prestada pela comunicação social aos discos mais recentes Rocket (2017) e Gretel (2019). Neste cenário, o moto DIY “Support Your Local Artists” abrange os fóruns de música alternativa espalhados pelo mundo e os espaços artísticos promotores do marketing boca a boca (ou teclado a teclado). DSU, disponibilizado via Orchid Tapes (outra conquista na carreira de Alex G, até então limitado à divulgação através da plataforma Bandcamp) foi o álbum que voltou os holofotes para o jovem universitário e a sua vocação para a formulação de fascinantes melodias bedroom pop, idiossincráticas e extraídas de uma bizarra história de amadurecimento (afinal, “Harvey” alude à longa-metragem do mesmo nome, que por sua vez inspirou o filme de culto Donnie Darko (2001)). Justiça para o artista, que acabara de atingir, com DSU, o culminar de um percurso musical dedicado a reconstruir os instantes pré-estado de sono da sua geração, sonorizando a solitude e os dilemas existenciais que atacam na calada da noite. A instrumentação ornamenta os sonhos do seu público-alvo, espelhando nas imperfeições e nos fragmentos de genialidade as ambições e os devaneios criativos do próprio cantautor.
26. Jon Hopkins, Immunity (2013)

Certos álbuns vão perdendo o charme com o tempo e dez anos depois já não soam tão relevantes. A última década não foi exceção, mas vários outros álbuns foram envelhecendo como vinho à medida que os anos passavam. É o caso de Immunity, do produtor britânico Jon Hopkins. Em 2013, quando saiu, poucos foram os críticos que, apesar de lhe atribuírem valor, se arriscavam a reconhecer que ali estava um dos álbuns de eletrónica da década. Não os condenamos, avançar com estas promessas é sempre difícil. Mas, passados sete anos, é fácil ver como Immunity se destaca dos restantes registos que foram saindo nesse período de tempo. Em géneros como a eletrónica e a música ambiente, não é raro que a música seja descartada para segundo plano pelo ouvinte (basta dar uma vista de olhos pelas playlists dedicadas ao estudo em serviços como o Spotify). No entanto, Immunity recusa-se a “fazer ambiente”. As faixas têm uma dimensão monumental e no seu conjunto têm efeitos semelhantes às sinfonias de Mahler. As imagens que pintam são vívidas e é impressionante a forma como as partes instrumentais se fundem com as gravações de campo. O aspeto mais marcante da obra é o espetro que abrange. Passado uma hora exata, Hopkins mostrou-nos uma vastidão de paisagens, emoções, cores e sensações, fazendo jus à frase do próprio Mahler: “Uma sinfonia deve ser como o mundo, deve abarcar tudo”. (Pedro Picoito)
25. Grouper, Ruins (2014)

Liz Harris é natural da California e cresceu numa comunidade de Bay Area, “The Group”, na qual os crianças eram conhecidas por “groupers”, expressão familiar que mais tarde Liz viria a adoptar para o seu projecto ambiental Grouper, quando em 2005 publicou o primeiro e homónimo álbum, logo seguido de “Way Their Crept”. Vagamente próximo dos Cocteau Twins no início, foi claramente baixando a rotação rumo a um dream-pop mais atmosférico e minimalista, construído de imagens misteriosas apenas apoiado em leves texturas, acústicas, pontualmente eléctricas, leves toques de reverberação ou distorção, dando suporte a pequenas frases a cargo da cristalina voz e nada mais. As capas preto e branco (artwork que merece ser visitado), nuas e despojadas, refletem os elementos que Liz mais procura, planando sobre planícies, árvores, nuvens, aves, rios, o mar, ondas, a brisa, o silencio, o luar, o cosmos. Ruins é o registo mais intimista da sua carreira, apenas apoiado na sua voz e piano, incluindo o pedal, o único acompanhamento a que Liz se permite recorrer nestas imagens difusas, paradas no tempo, despidas de qualquer ornamento ou arranjo adicional, em profunda solidão. Embora intrinsecamente atmosférico, a música de Ruins, e as suas líricas apenas sussurradas, convidam mais do que nunca ao estreitamente da audição, à proximidade e partilha das emoções entre linhas e nuances vocais, em que o termo música ambiental se torna pejorativo. Consta que o álbum terá sido gravado no sudoeste de Portugal em 2011, pelo que imaginamos serem alentejanas as rãs e as cigarras, únicos interpretes da faixa de abertura “Made of Metal”. Ruins será olhado como uma das jóias da década, incluindo tristes mas valiosas pérolas como o terno e cruel Clearing “And maybe you were right when you / Said I’d never been in love / How can I explain / Why’s safer just to be alone” (Rui Ribeiro)
24. Preoccupations, Viet Cong (2015)

A morte e a tragédia não rareiam na paisagem musical da década aqui reunida. Mas em nenhum outro como no álbum de estreia dos Preoccupations, então conhecidos por Viet Cong, se pode ver o bem que tantas vezes ocultam. São grandes as saudades que os Women deixaram entre os fãs e as que ficaram de Christopher Reimer nunca poderão ser colmatadas. Ainda assim, não havia dúvidas sobre qual dos álbuns desta família ficaria para a história. Renascendo das cinzas da gorada banda dos irmãos Flegel, os Preoccupations injectaram no seu legado de neblinoso pós-punk psicadélico um veio de ruído industrial, vozes marteladas e cavernosas e batidas metronómicas de trituradora. Há momentos onde o passado reemerge como em “March of Progress”, soando a uma versão macabra de uma canção dos Pink Floyd do tempo do Syd Barrett. “Bunker Buster” dá largas às ácidas guitarras angulares dos Public Image, ao som da voz hipnótica de Matt Flegel, começando uma dança mais fúnebre ainda, que entrando pela imensa “Continental Shelf” só termina na “Death”. Aqui, de forma livre, as melodias, que começam por amenizar a dor e desespero ecoados pela caótica e retumbante secção rítmica, a certa altura desvairam e terminam o álbum numa das mais fervilhantes e exasperadas transpirações de vida que alguma vez ouviremos em disco. “No need to suffer silently”, diz Flegel. Quando o resultado é deste calibre, só nos resta agradecer e carregar no play sempre que precisarmos de uma voz que nos lembre que a morte não é o fim. (Maria Pacheco de Amorim)
23. Arca, Arca (2017)

Desde o início da década de 2010 que a visão progressista e o pensamento “fora da caixa” de Arca têm vindo a arquitectar a música do futuro, influenciando toda uma geração ultra-tecnológica e as correntes deconstructed techno e glitch que actualmente dominam a indústria da música eletrónica alternativa. A sonoridade alienígena de Xen (2014) e Mutant (2015), tal como o seu trabalho de produção nos discos Vulnicura (2015) e Utopia (2017) de Björk, LP1 (2014) de FKA Twigs, Take Me Apart (2017) de Kelela e ainda a colaboração com Kanye West no iconoclasta Yeezus (2013), elevaram Arca ao estatuto de referência máxima da composição e produção da era digital, reunindo aclamação da comunicação social e da própria sociedade artística. No entanto, o verdadeiro corpo estranho na discografia desta autora é Arca. Com o seu homónimo terceiro álbum de estúdio, Arca arremessa uma curveball às expectativas criadas pelos jornalistas em torno do seu trabalho, deixando cair os títulos futuristas e apresentando-se na sua versão mais pura, desamarrada de convenções e cantando na língua materna, através da qual aprendeu a processar emoções. Em entrevista a Wolfgang Tillmans sobre o disco, Arca referiu: “A relação que estabeleço com a minha voz sempre assumiu a forma de um bailado. Existe uma ausência e uma presença. É estranho. Para mim, parece um novo lugar [sobre as melodias vocais em Arca]; porém, de um modo mais íntimo, sinto-me como se estivesse a comunicar com a minha versão adolescente. Eu gosto desta contradicção”. E Arca, em toda a sua complexidade artística, não peca por falta de contradicções. O electropop que remonta a tempos ancestrais (na altura com o nome artístico de Nuuro) encontra-se presente na minimamente convencional “Desafío”. Contudo, a magnífica melodia é deixada de molho no universo radicalista de Arca, a voz da artista potencializada pelo delay. “Tócame de primera vez/ Mátame una y otra vez/ Ámame y átame y dególlame/ Búscame y penétrame y devórame”. A justaposição entre a delicadeza e a brutalidade do sentimento de Arca descobrem na desconstrução da música pop um lar ideal. Arca é um portento, um colectivo artístico. E Arca representa a sua aptidão para imaginar beleza no caos. Seja na canção de embalar assombrada de “Piel”, seja na colisão entre classicismo e modernismo do épico “Reverie”. (Diogo Álvares Pereira)
22. Sharon Van Etten, Are We There (2014)

Na capa do disco, vislumbra-se um rosto inclinado a transpor a janela de um carro. Os cabelos estão expostos ao vento, a estrada é longa. Are We There – questiona Sharon Van Etten, sem utilizar deliberadamente a correta pontuação. Sharon deixa a questão em aberto, não lhe interessa a meta, mas sim o percurso; não quer saber se existe uma resposta porque na verdade recusa fazer uma pergunta formal. E então canta: “I can’t wait til we’re afraid of nothing”, abrindo o disco com um grito de esperança numa relação tóxica com o seu então parceiro. “Afraid of Nothing” funciona como um raio de luz que se irrompe por nuvens cinzentas que cobrem esse amor. Sempre o amor. Através de instrumentação densa, onde a sua voz se funde na explosão da precursão e nas texturas das guitarras, Sharon Van Etten cria um dos álbuns mais delicados e emocionalmente ressonantes desta década. Are We There é a viagem melancólica e incerta, de janela aberta e cabelo ao vento, da artista e da mulher que quer sentir os raios de sol no seu rosto mas sabe que “everytime the sun comes up I’m in trouble”. (Daniel Rodrigues)
21. Four Tet, There Is Love In You (2010)

Como nos melhores casos de pintura abstracta onde é possível reconhecer as formas próprias e insistentes do autor, das quais cada obra é nova variação, assim se identifica uma canção de Four Tet. É uma familiaridade que vem do cultivo de um estilo a que nos habituámos, mas também da sensação de chegar finalmente a casa. Este estilo encontra em There Is Love In You a mais perfeita realização, com cada faixa a exibir sempre novos e diferentes aspectos da mesma fórmula, gerando um espaço onde se fundem a estranheza do inédito e o calor da hospitalidade. No solo, um baixo propulsivo, ora agitado por arritmias, ora progredindo em ritmos motorik, fascina os pés, atrai à dança, interpela o corpo e enraiza as canções na discoteca. Sobre ele borbulham, em contínua animação e perene regozijo, melódicos sintetizadores, fragmentos vocais em soluço, amostras de sons acústicos a ecoar no espaço físico, címbalos a tinir em ritmos de gamelão, um frenesim de vida que entretém a inteligência e aquece o coração. Uma meditativa tranquilidade atravessa toda esta fervilhante actividade, tornando a música mais paradoxal ainda e transfigurando-a numa experiência lentamente comovedora. Da tensão nunca resolvida de “Angel Echoes” e do portento de dança em sinistra ambiência que é a “Love Cry”, sem dúvida uma das canções da década, até à pacificação de tudo na alegre “She Just Likes to Fight”, There Is Love In You é uma viagem que afirma o poder da música para fazer acontecer o que somos e trazemos em nós. (Maria Pacheco de Amorim)
20. Vampire Weekend, Modern Vampires of the City (2013)

É fácil em certos círculos demitir os Vampire Weekend e a sua peculiar versão de pop barroco, sempre na tangente do ridículo ou mesmo do parolo. E admitamo-lo, por vezes apetece. Mas no preciso momento em que estamos quase a mandá-los à fava e a todo o público que lhes sente o charme, a canção que nos estava a tirar a paciência toma uma direcção inesperada e damo-nos conta de que não existe no panorama da música, ontem ou hoje, ninguém como eles. Goste-se muito ou pouco, os Vampire Weekend são capazes de suscitar dissensão suficiente para nos fazer parar e pensar se não haverá neles algo mais. Tal como no seu Modern Vampires of the City, onde a feira sonora esconde, em cada recanto da textura, reviravolta melódica ou verso das canções, a angústia de se descobrir a descarrilar no alto da montanha russa da vida. Ou melhor, preso por baixo de um gigantesco candelabro em queda, o da capa do primeiro álbum, lembram-se? Na minimalista e orquestrada tontice, na exagerada euforia instrumental ou nas fatigadas e morosas melodias, borbulha latente a agonia. “I don’t wanna live like this, but I don’t wanna die”, canta Ezra Koenig, dando voz ao surdo desconforto em que tantos vivem enquanto se sentam condenados à mesa do trabalho, ou voltando a casa já de noite, sabe-se lá para que mortal desespero. Haverá no cosmos gelado uma só gota de luz e graça? Ao grito de “there’s no future, no answer”, que irrompe em “Hannah Hunt”, o próprio Koenig responde voltando-se para aquele que dá nome à “Ya Hey”, recolocando a hipótese vinda da sua tradição judaica. E, no entanto, como viver com um Deus que se apresenta sem um rosto ao qual chamar pelo nome? A pergunta era boa demais para não a pormos aqui. (Maria Pacheco de Amorim)
19. Interpol, Interpol (2010)

Numa década marcada pelo culto do efémero e pela elevação da realeza pop ao estatuto supostamente iconoclasta de instalação kitsch, teria sido salutar ouvir a sageza com que Paul Banks abre este tão vilipendiado álbum homónimo: “Dreams of long life/ What safety can you find?” Experimentada a turbulência do sucesso, o ir e vir da volúvel afeição das massas e dos críticos, tudo aparece agora curto e ilusório diante da vida que amadurece e se desvela misteriosa: “See the great unknown/ that shades for miles”. Num dos álbuns mais subvalorizados da década, os Interpol narram o desfazer-se de uma relação afetiva que se torna símbolo do esboroamento da banda sob a pressão das cisões internas, do cansaço da vida na estrada, dos excessos da fama e da noite, retratados no anterior Our Love to Admire. Apesar da insularidade do processo de composição e gravação das canções em Interpol, tão contrária ao método coletivo desta banda, o que ouvimos aqui é, mais uma vez, a majestade visceral que os define. Numa variação mais pesada e morosa, a exibir nova e lenta mutação sonora, a identidade da banda assume neste registo proporções clássicas sem nunca deixar de ser pura música rock. Uma textura polifónica de linhas melódicas que nunca funcionariam por si só, secções com número ímpar de compassos, contraintuitivas e acres descidas de meio tom, tudo pormenores que torcem subtilmente a fórmula pop, gerando um contínuo desconforto que aliena os ouvintes, expressão talvez da solidão do protagonista, contraofensiva quem sabe à adulação das massas e rejeição dos críticos. Para trás vão ficando os rótulos com que se poderia tentar capturar uma personalidade musical que nunca foi senão o diálogo artístico e existencial de quatro pessoas e as suas histórias. Nem pós-punk, nem shoegaze, nem pós-rock de fácil confecção, Interpol é, juntamente com o icónico álbum de estreia, o melhor retrato da banda, se bem que invertido no seu sombrio negrume. Mas se as luzes da ribalta e da juventude se parecem ter apagado, outra mais real se acende ao fundo do túnel. Aquele desejo que é a única verdadeira marca desta banda tantas vezes incompreendida, o mesmo desejo de sempre, impossível de realizar por meio da força humana, carcomida pelo inominável mal de que enferma, vibra poderoso nos versos finais e insistentes da “Lights” ou no canto de cisne que é a “Undoing”. “I will wait”, promete e suplica a personagem principal deste drama de dissolução. Nós também e não fomos desiludidos. Quatro anos depois, qual fénix renascida das cinzas, estavam de volta. (Maria Pacheco de Amorim)
18. David Bowie, Blackstar (2016)

Quase meia década depois do seu lançamento, Blackstar ainda é um grande mistério. Sabia David Bowie que estava prestes a morrer? Estaria ciente de que este seria o seu último álbum? Certamente são perguntas que surgem, e às quais facilmente consentimos, atendendo à temática do álbum e o contexto do seu lançamento. Já gravemente doente, Bowie lançou o vigésimo sétimo álbum no seu aniversário, um álbum no qual o britânico falava da morte de forma profunda. Dois dias depois, era levado pela doença. O vídeo do single “Lazarus” acentua todas estas perguntas, sendo quase intuitivo assumir que Bowie conscientemente fez da sua partida uma obra de arte (mesmo com todas as outras teorias que asseguram estarem já planeados outros projetos). Independentemente das conspirações, Blackstar fala por si só. No registo, o camaleão é influenciado por ele próprio, sentindo-se em várias canções as paletes de Low ou Young Americans. Por outro lado, o artista explora também novas dimensões, sendo notável a sua voz, mais frágil e vulnerável do que nunca. Em poucas palavras, Blackstar é um clássico instantâneo e um testemunho à consistente excelência que sempre distinguiu Bowie de outros nomes, até ao final. Trata-se de um álbum que não podia ter sido criado por outra que não uma das figuras mais icónicas, para além dos 2010s, de toda a história da música. (Pedro Picoito)
17. Deerhunter, Halcyon Digest (2010)

Seria impossível esboçar a fisionomia da década passada sem acentuar os Deerhunter como um dos traços mais marcantes. Inconfundível também, porque a personalidade musical de Bradford Cox não encontra igual nem sequer (ou sobretudo) entre os intermináveis e desinspirados pares. Se o folk psicadélico, o noise e o dream pop foram o formigueiro do rock alternativo durante os 2010, muito se deve à influência de um álbum como Halcyon Digest, saído logo na abertura da década. Chegados ao fecho, constatamos que o mesmo álbum flutua vitorioso acima de quase tudo o que se lhe seguiu nestes géneros tão rapidamente tornados digeríveis. Passada a maré de suaves vozes, acústicas guitarras e módica quantia de sintetizadores e distorção, na lembrança colectiva ficam apenas alguns discos capazes de nos deixar com uma indigestão, precisando, como nos ruminantes, de várias viagens pelo corpo antes de poderem ser finalmente assimilados. Segundo Bradford Cox, o título refere-se às imagens retocadas do passado, mastigadas pela memória numa nova Arcádia. A esguia, fugidia musicalidade do disco, com a voz soterrada em reverberação e prenhe de alusões à pop e folk dos anos 60, é dele a perfeita metáfora. Mas, se Halcyon Digest é uma das mais inesquecíveis imagens da nostalgia de que a vida em geral e esta década em particular são feitas, nada nele soa a nostalgia. O génio de tudo se serve para colocar no mundo o inédito e irredutível a tudo isso mesmo de que se serviu e a obra-prima dos Deerhunter já era imortal no dia em que nasceu. Uma vida solitária, de abandono parental e condenada às margens pela disformidade do Síndrome de Marfan (lembrando aquela outra lendária figura do punk que era Joey Ramone), passada por isso na companhia da música e da instrospecção, não podia deixar de gerar uma alma antiga em corpo novo. Espíritos como o de Bradford Cox experimentam o tempo de outra maneira e Halcyon Digest é a impressão digital de uma mente que sempre soube o que se aninha no interior da História, de qualquer história vivida apenas neste mundo: “When you were young and your excitement showed/ But as times goes by is it outgrown?/ Is that the way things go? Forever reaching for the gold/ Forever fading black and comes up cold”. (Maria Pacheco de Amorim)
16. Kanye West, My Beautiful Dark Twisted Fantasy (2010)

“Can we get much higher?” Até ver, não. E foi com esta deixa que Kanye West entrou para abrir My Beautiful Dark Twisted Fantasy, um álbum que, se estamos a falar dos melhores da década passada, é considerado por muitos, tantos, quase todos como o melhor da segunda década deste século, no que ao hip-hop diz respeito. Unanimemente aclamado pela crítica como uma obra maior do que o que aos ouvidos possa chegar, à primeira, segunda, terceira audição, tendo ainda recebido um redondo 10 da exigente Pitchfork, MBDTF consagrou Kanye West como um dos artistas mais importantes na história moderna do hip-hop. Há um antes e um depois de Kanye, muito por culpa da magnitude deste disco. E nessa concorrida história do hip-hop, poucos foram os discos que tiveram impacto equivalente, por si só, mesmo na era dourada, durante os noventas. Com uma lista de artistas inacreditável, a figurar nomes como Jay-Z, Kid Cudi, Raekwon, Pusha T, Swizz Beatz, RZA, John Legend, Bon Iver, Rick Ross, Nicki Minaj, CyHi The Prynce, Mike Dean, No I.D., entre tantos outros, que directa ou indirectamente tiveram influência neste projecto (como os contributos de Madlib e DJ Premier que acabaram por não entrar, ou as presenças de Q-Tip e Pete Rock em estúdio para servir de pura inspiração), Ye concretizou uma revolução musical, elevada ao Monte Olimpo da produção. Como Mona Lisa para Da Vinci ou Guernica para Picasso, MBDTF é para Kanye a sua grande obra, de uma carreira, de uma vida. Nem só de um quadro se fazem os grandes pintores, mas cada pincelada que dão ao longo dos anos tem como destino (inconsciente) a pintura final. Kanye criou um próprio antes e depois na carreira com a sua bela, sombria, torcida fantasia. Uma coisa é certa: esta fantasia não fica mais bela, sombria, torcida que isto. E é por isso que não haverá outra igual. (Paulo Pena)
15. Joanna Newsom, Have One On Me (2010)

Os violinos aproximam-se de mansinho e a agudeza na voz de Joanna Newsom acompanha imediatamente, nunca perdendo a graciosidade. Mais tarde, junta-se o piano. “Easy” explode numa pintura barroca de instrumentação, enquanto a cantautora californiana nos enfeitiça com os seus perspicazes jogos verbais: “Haven’t you seen what I’ve seen?/ Don’t you know what I ought to do?/ I was born to love/ And I intend to love you”. A comparação entre a sonoridade de Joanna Newsom e os três primeiros discos de Kate Bush é inevitável: esteticamente vanguardistas, em harmonia com a natureza e incorporadores de elementos da música clássica na sua própria categoria de pop. No entanto, Joanna Newsom não sobrevive de paridades estabelecidas com músicos de relevo. A chancela do seu trabalho, a consistência composicional de The Milk-Eyed Mother (2004) e especialmente Ys (2006) e a ambição artística do disco triplo Have One On Me – gravado numa altura em que Joanna Newsom havia desenvolvido nódulos nas cordas vocais – falam pela artista. E o seu terceiro álbum de estúdio fala muito (e bem), apropriando-se, durante cerca de duas horas, do distintivo vocabulário arcaico da cantautora e de uma instrumentação riquíssima, hesitante entre as luzes da ribalta e a modesta complementação da voz, para dar a conhecer a sua versão mais íntima. Tal como os discos triplos Sandinista! (1980) e 69 Love Songs (1999), Have One On Me assume um risco por parte da aclamada autora: musicalmente eclético e aventureiro, liricamente poderoso e pessoal, porém consciente de que a duração contribuirá para uma possível divisão na actividade crítica. Quem se dignar a escutar esta obra na íntegra e a prestar atenção às subtis peculiaridades, será recompensado com uma viagem misteriosa pela mente de Joanna Newsom, onde a artista troca a abundância de alegorias fantasiosas por uma externalização mais frontal do seu coração frágil e dorido. (Diogo Álvares Pereira)
14. Death Grips, The Money Store (2012)

É legítimo equiparar a relevância da sonoridade radicalista e corrosiva dos Death Grips nas diversas narrativas do experimentalismo dos 2010’s à de Kendrick Lamar no campo do hip-hop político ou de Lana Del Rey no que diz respeito a música pop na sua definição mais leiga. Em 2008, o trio de Sacramento já distribuía de modo DIY a sua mixtape Exmilitary e plantava as sementes da fusão de hardcore digital e hip-hop industrial que acabaria por revolucionar o panorama musical da década seguinte. Entre a obra magna da sua discografia (a compilação The Powers That B, de 2015) e favoritos pessoais (como No Love Deep Web, de 2012), acabámos por optar pela integração de The Money Store. O álbum de estúdio inaugural dos Death Grips merece uma posição em qualquer lista da década, justamente por ter lançado o grupo nas bocas do mundo e persistir como um exemplar supremo do potencial destrutivo da sua música. A abrasividade sonora de The Money Store leva à exaustão, a componente rítmica nunca afrouxando. A cacofonia de loops pontapeia violentamente o ouvinte desde “Get Got” ao grande final de “Hacker”, concedendo uma folga à vítima nos intervalos mais melódicos das faixas (o gancho de “I’ve Seen Footage” e a linha de sintetizador em “The Fever (Aye Aye)” exemplificam este equilíbrio). O acasalamento perfeito entre a agressividade monocórdica do rap de MC Ride, a endiabrada percussão de Zach Hill e o sampling eclético de canções gera um ambiente distópico, cyberpunk e representativo dos nichos bizarros que habitam os cantos mais recônditos da web. Para um disco que integrou o ranking da Billboard aquando da sua estreia, The Money Store transpira a alienação de Videodrome (1983), porém adaptada à realidade dos 2010’s. Oito anos após o seu lançamento, esta obra permanece um fenómeno irreplicável na indústria da música. (Diogo Álvares Pereira)
13. Swans, The Seer (2012)

Raras são as bandas que resistem ao teste do tempo, conservando a capacidade de reinvenção e o juízo crítico perante a sua própria arte. Ainda mais raras são as bandas que tomam a decisão de retornar aos palcos, após décadas de produção de música extrema, desafiante para a audiência e exaustiva para os compositores. Geralmente, nestes casos, um ponto final simboliza um ponto final. Não para Michael Gira e os seus Swans, pois, claro. O mais admirável nesta faceta contemporânea da banda de Nova Iorque é que o esforço coletivo da tribo e a paixão nutrida por música figadal tenham voltado a produzir resultados capazes de afrontar qualquer paradigma cultural e desconfortar até os menos suscetíveis. Se em 1996 os Swans lançavam Soundtracks For The Blind – um assombroso álbum pós-rock, fiel às origens no-wave da banda e incorporador das tendências dark ambient e avant-folk que chegaram com a integração de Jarboe no seio do grupo –, quase uma vintena de anos mais tarde, a propensão para música vanguardista e de veia cinematográfica manteve-se, influenciada pela totalidade das experiências passadas e ainda assim incomparável aos trabalhos precedentes. “I see it all”, repete Michael Gira num tom profético, indubitavelmente adequado ao clima apocalíptico de “The Seer”. Não podemos deixar de concordar, visto que o líder dos Swans sempre aparentou estar um (ou vários) passos à frente do respectivo panorama musical, suficientemente eclético para experimentar com diferentes géneros e suficientemente sábio para colocá-los ao serviço da reconhecível atmosfera dos Swans. Depravado, sórdido e, evidentemente, sublime, The Seer faz uso de um vasto leque de colaborações (Karen O, Ben Frost, Al e Mimi dos Low e a familiar Jarboe são apenas alguns dos exemplos) e um igualmente invejável catálogo de instrumentos para narrar a Queda do Homem, a natureza guiada pelo instinto e a maldade na essência. Nesta banda-sonora de proporções bíblicas, assistimos ao violento espectáculo de faixas torturadas e canibalizadas até que nada reste da sua estrutura (justificando a sua intimidante duração), paisagens sonoras labirínticas e desgastantes e linhas de baixo pós-industriais que nos despertam, por breves momentos, do estado transcendental a que nos sujeitamos com o progresso de cada capítulo. The Seer não é um álbum acessível, longe disso. Porém, engana-se quem não reconhece mérito a um conjunto de artistas tão desamarrados das convenções sociais, qualificado para elevar a exploração do timbre e da textura a um patamar superior e, com isso, disponibilizar uma das experiências sensoriais mais impactantes da década. (Diogo Álvares Pereira)
12. PJ Harvey, Let England Shake (2011)

Anos antes de o centenário tornar 1917 o assunto na boca de toda a gente, Polly Jean criava o testemunho pop definitivo da carnificina que despoletou a era do absurdo. O retrato da guerra do Iraque por Harold Pinter, a fragmentada percepção subjectiva da devastação de T. S. Eliot, o horror da morte nos rostos de Goya, o anti-militarismo de Kubrick, o stress pós-traumático dos soldados envolvidos nas guerras do Médio Oriente. Por todos os poros transpira a longa pesquisa que precedeu a escrita das letras e o esboço instrumental que P.J. Harvey levava para a St. Peter’s Church, em Dorset. Lá, improvisadas a partir dos contributos de John Parish e Mick Harvey, as canções ganharam a forma final e, sob a co-produção de Flood, foram gravadas ao vivo. Contrário ao modo habitual de P.J. Harvey operar, este método colaborativo e pouco programado, onde o acontecer da música lhe ia ditando para onde ir, com que voz cantar, é o maior protesto contra o despotismo na origem da guerra entre os homens. Nem falta subversão ao uso lírico das verdes paisagens de Inglaterra, à inspiração instrumental na música tradicional folk e celta (os Pogue fizeram parte da pesquisa), à recriação da marcha marcial a partir dos ritmos eufóricos do rock. A história do país torna-se o material tanto da crítica ao nacionalismo agressivo como do lamento pelos destroços da nação a que este leva, num álbum tão variado nos seus humores quanto nos estratos do percurso musical de Polly Jean, desde o rock alternativo dos 90 que se ouve em “Bitter Branches” ao nevoento lo-fi de “Written On The Forehead”, reminiscente da era do White Chalk. Se Let England Shake, sendo tão pouco confessional, soa tão autêntico é porque P.J. Harvey, como todo o grande artista, encarna as personagens, histórias e cenários que emergem de uma vida nunca limitada aos confins da experiência imediata. A discreta Polly Jean, a quem todos tratamos pelo nome próprio como a amiga muito querida, num mundo que arrefece sob o bafo oco do sucesso e narcisismo, nunca parou de crescer, metamorfosear-se, até culminar em Let England Shake. E como qualquer grande amiga, sem outro espetáculo que não o sentido e a comoção da música, abalou-nos o quotidiano e sacudiu-nos do torpor, mesmo a tempo de nos acordar para um mundo em chamas. (Maria Pacheco de Amorim)
11. Low, Double Negative (2018)

Os Low podem-se gabar de merecer ter um disco incluído na lista de melhores álbuns de cada uma das décadas da sua existência. Não o farão, mas podiam. São esse tipo de banda. O slowcore que em I Could Live in Hope (1994) os definiu, tanto quanto eles aí o definiram, foi absorvendo o ar dos tempos, o drama da vida, o talento dos produtores, metamorfoseando-se lenta mas organicamente até ser documentado de forma indelével em alguns dos álbuns que compõem a sua longa carreira (Things We Lost In The Fire, de 2001, vem logo à mente). Em Double Negative, voltaram a colaborar com B.J. Burton, um produtor longe da sua órbita, para criar o retrato apocalíptico de um período de turbulência pessoal atravessado por Alan Sparhawk. Por entre nuvens imensas de distorção e detrito sonoro, silêncios intermitentes e constantes arritmias, vão perdendo o sinal, emergindo e submergindo no caos, as melodias etéreas e a voz inefável de Mimi Parker ou sufocada de Alan Sparhawk. Sem nunca abandonar o andamento, as progressões e a melancolia do slowcore, este assume em Double Negative feições de um shoegaze muito particular, igual a nada a não ser os Low. E como é o caso em todas as grandes obras que são também muito pessoais, o que ouvimos neste álbum inaudível é a conversão da luta de Sparhawk com a depressão numa das imagens mais fiéis do mal-estar e confusão desta década. Mas não seriam os Low se desta distopia sonora não saísse a esperança de um novo mundo, ou pelo menos a certeza da sua possibilidade. Por isso, “before it falls into total disarray, you’ll have to learn to live a different way”. (Maria Pacheco de Amorim)
10. Slowdive, Slowdive (2017)

Impossível ficar indiferente ao fenómeno “regresso” da década 2010-2019. Um desfile de ressurgimentos nunca antes visto, onde não faltaram alguns realmente já prometidos, ou altamente desejados, mas também outros surpreendentes e por vezes mesmo ridículos, de meter dó. Entre os desejados mas nem por isso prometidos, surgiu o álbum homónimo (2017) do famoso quinteto Slowdive, a obra perfeita, a opus duma década para alguns por aqui. E se pelos padrões do bom shoegaze, os Slowdive já eram mestres, este regresso após quase vinte anos foi uma lufada de ar fresco, sem uma ponta de bafio ou teia de aranha. Simplesmente boa música, nova e honesta, superlativamente tocada, interpretada e produzida (Chris Coady), mesmo deixando de lado a por vezes limitativa classificação por géneros. Todas as faixas de Slowdive são odes de alegria, meditação positiva, sonho e alguma nostalgia inerente, a cargo dum coletivo coeso, em que as experiências individuais ao longo do tempo foram revertidas num resultado final altamente eficaz. Comprova-o quem teve a felicidade de assistir ao concerto de lançamento do álbum. Oito pérolas musicais que fazem já parte do melhor portefólio da década, começando por “Slomo”, a épica abertura que qualquer banda de shoegaze sonharia compor, rapidamente dando lugar aos enérgicas loops de guitarras e ritmo impetuoso de “Star Roving”, quase capaz de erguer um paralítico, passando pela mais etérea “Don’t Know Why”, uma clara homenagem aos Cocteau Twins, seus companheiros de viagem, o lindíssimo piano de “Falling Ashes” a fechar a cortina das mais belas e finais nuvens sonoras, sem esquecer a obra prima “Sugar for the Pill”, em que Neil Halstead e Rachel Goswell parecem desejar reescrever o (seu) passado: “And I rolled away/ Said we never wanted much/ Just a rollercoast/ Our love has never known the way”. Slowdive foi sem dúvida o mais delicioso dos regressos ao futuro e à esperança na música moderna. (Rui Ribeiro)
9. Weyes Blood, Titanic Rising (2019)

A multi-intrumentista Natalie Mering (aka Weyes Blood) soube evoluir das suas origens undergorund, ver-se livre de todos os detritos ruidosos que caracterizaram os seus primeiros registos e colaborações (Jackie-O Motherfucker, Dark Juices e mais recentemente Ariel Pink), virando à esquerda numa algo surpreendente viagem a solo e clarificando o seu novo rumo. Abraçando um folk algo tradicional de início, como no lindíssimo The Outside Room (2011), onde os fantasmas e dúvidas existenciais que a movem e dão o sal à sua lírica escorreita e elegante se mantêm intactos, é sobretudo a sua bela e perfeita capacidade vocal que desponta de disco para disco e dá estrutura e dimensão à sua obra, colocando-a entre as mais belas vozes da atualidade. A viagem continua com The Innocents (2014), abrindo lugar ao som mais soft-rock alternativo e elaborado de Front Row Seat to Earth (2016), para culminar em Titanic Rising, uma obra grandiosa, muito bem ilustrada em ambiências experimentais perfeitamente orquestradas, com arranjos de eleição, criteriosamente produzida e, acima de tudo, maravilhosamente interpretada. Um salto formidável para quem viu o seu simples e puro folk-act no Primavera Sound de 2017. Como alguém dizia, Weyes Blood de Titanic Rising parece talhado no paraíso musical que seria termos Brian Eno a produzir as últimas obras de Joni Mitchell. A profundidade e elegância introspetiva de Joni Mitchell parecem de facto esvoaçar nos poemas de Mering e os arranjos e ambientes de Titanic Rising herdam, mesmo que inconscientemente, algo do melhor de Eno. Mas o resultado final erguido é, sem dúvida, um belo e original filme de autor, com o único nome de Weyes Blood: “I wanna be the star of mine/ Of my own, of my own/My own movie. (Rui Ribeiro)
8. Car Seat Headrest, Twin Fantasy (Face to Face) (2018)

Em 2010, Will Toledo começou a lançar álbuns sob o pseudónimo de Car Seat Headrest. Depois de doze registos partilhados, o projeto tornou-se um dos mais bem sucedidos do Bandcamp. Assim, em 2015, Toledo assinou com a Matador e os Car Seat Headrest nasceram como banda. Decorridos três anos, o vocalista decidiu regressar ao seu clássico do Bandcamp, Twin Fantasy, regravando-o com algumas alterações decorrentes das novas instalações e do novo todo que constituía o projeto e retitulando-o como Twin Fantasy (Face to Face), para se distinguir da versão inicial. Twin Fantasy, foi desde o seu primeiro lançamento um passo importante para Toledo. Mais habituado a partilhar coletâneas de canções, pela primeira vez, o artista idealizou um álbum concebido para dar centralmente conta de uma única experiência, a de um relacionamento vivido nessa altura. Esta mudança de estilo resultou do processo de composição da “Beach Life-in-Death”, uma das faixas mais épicas e longas do álbum, onde tal como no restante registo, a propósito do “tu” que interpela, o vocalista discorre sobre a sua condição e põe em causa a própria humanidade. As canções, que tanto explodem como se demoram para dar lugar às divagações de Toledo no seu peculiar arrasto, parecem perfeitamente sincronizadas com a panóplia de emoções que perfazem a experiência do artista. A seriedade do desespero revelado nos refrães vociferados é logo a seguir quebrada pelo toque irónico de Toledo, que nos vai apanhando de surpresa com fragmentos poéticos. Tudo se reúne num único álbum que não poderia não ser um dos melhores da última década. (Margarida Seabra)
7. Beach House, Bloom (2012)

Os Beach House consagraram-se há muito como a definição do Dream Pop. É por eles que os restantes militantes desta categoria são avaliados. E quem considerar um exagero esta afirmação é bom que percorra e avalie a mais eclética das discografias numa só década. Que tormentoso deleite aquele de escolher o álbum mais significativo entre Teen Dream, Bloom, Depression Cherry, Thank Your Lucky Stars, 7 e ainda uma compilação de Lados-B que envergonha muitos Lados-A no género. As letras de Bloom, como da generalidade dos álbuns dos Beach House, podem não ter a riqueza poética ou a relevância da mensagem de outros contendores nesta lista, mas musicalmente o álbum é uma obra prima. Os ambientes etéreos, as melodias hipnóticas, a vocalização singularmente bela, os arranjos elaborados e eficazes, fazem deste álbum o sonho perfeito, coeso, imersivo, sem uma faixa menor, e em que todas as entradas são memoráveis. Victoria LeGrand (voz e teclados) e Alex Scally (guitarra) conheceram-se e deram os primeiros passos em 2004, na cena indie de Baltimore. A Pitchfork cedo deu o mote, reconhecendo neles justas comparações com Nico e Mazzy Star, e Chris Coady (Future Islands, Yeah Yeah Yeahs , The Kills, Yuck, Amen Dunes…) inventou o resto, demostrando o que é ser excelente na produção. Como diz Vitoria Legrand algures em Bloom, “it’s a strange paradise”, de onde não apetece sair assim que lá se chega. (Rui Ribeiro)
6. Sufjan Stevens, Carrie & Lowell (2015)

Até 2015, poucas foram as vezes em que Sufjan Stevens se revelou tão catártico, íntimo e evocativo como em Carrie & Lowell. Há obviamente notórias exceções distribuídas quase metodicamente pelos seus trabalhos discográficos. Lembramo-nos, por exemplo, “The Owl and the Tenager” do EP All Delighted People (2010), “Casimir Pulaski Day” e “John Wayne Gacy Jr.”, ambas de Illinois (2005), “To Be Alone with You” em Seven Swans (2004) ou até da minimalista “Rake”, faixa de A Sun Came (1999). Tudo canções que despertam reações involuntárias nas glândulas lacrimais. Há em Carrie & Lowell, no entanto, um fenómeno raro e deveras precioso, não só no reportório de Sufjan Stevens mas na indústria musical no geral: um sentido de unidade, de coesão narrativa e sonora. Todas as canções em Carrie & Lowell são como uma página do diário de Sufjan Stevens, onde o cantautor se abre completamente, se confessa, se exorciza mostrando-nos o seu coração descerrado, onde ainda residem feridas profundas. Num álbum inteiramente dedicado à sua mãe que o abandonou quando Sufjan ainda era criança e que, quando reentrou na sua vida, acabou por falecer de cancro, chegamos à última faixa, a devastadora “Blue Bucket of Gold”, e surge o derradeiro lamento, um grito de ajuda. A Stevens, não lhe resta mais nada a não ser lamentar-se, esperando que, no momento certo, haja um amigo que lhe estenda a mão, algo que a sua mãe nunca conseguiu fazer. “Blue Bucket of Gold” encerra Carrie & Lowell mas não oferece qualquer senso de encerramento à sua narrativa. Se tudo isto é profundamente tocante? Claro que sim. Escutar Carrie & Lowell é masoquismo emocional – indispensável e prazeroso. Uma obra-prima. (Daniel Rodrigues)
5. Kendrick Lamar, To Pimp a Butterfly (2015)
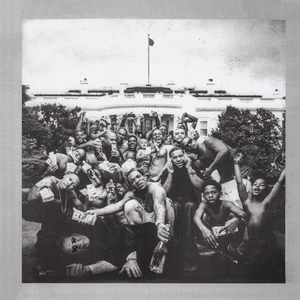
Cinco anos passaram desde o lançamento de To Pimp A Butterfly, e enquanto os primeiros álbuns de Kendrick Lamar foram feitos de Compton para Compton, To Pimp A Butterfly é uma obra de Compton para o mundo. À semelhança do seu autor, este álbum ganhou um estatuto intocável e quebrou as fronteiras da bolha que é “Bompton”, tornando K. Dot em algo muito maior do que apenas um rapper entre muitos. Hoje, é um ícone do hip-hop, da música, da cultura afro-americana, e da própria nação. Um autêntico “King Kunta” entre os seus pares, que conquistou o respeito de todos através dos seus versos e “Hood Politics”, num país onde a luta pela igualdade de etnias ainda está bem viva. To Pimp A Butterfly é tanto um manifesto político como musical. O casamento entre o hip-hop e o jazz dão voz a um povo liderado por Kendrick, em quem vêem um líder munido das armas certas: as palavras. Poeta dos tempos modernos, os seus versos são complexos, pesados e sentidos, acompanhados pelo fiel saxofone que caracteriza a linha sonora deste clássico instantâneo. Toda a construção desta obra é sublime, desde os samples aos coros, passando pelos interlúdios, sempre sob a narração do profeta K. Dot. Pelo To Pimp A Butterfly, por tudo isto e muito mais, Kendrick Lamar tornou-se num ídolo de uma geração, numa figura emblemática com um impacto incalculável na indústria musical. Ainda assim, Kendrick, “are you really who they idolize? To pimp a butterfly”. (Paulo Pena)
4. Cloud Nothings, Attack on Memory (2012)

Numa década marcada por poptimismo isolado de critério, promoção do kitsch e pregão da narrativa da “morte do rock”, nada mais punk do que o lançamento de um álbum que rema contra a corrente, fazendo chiar as negligenciadas guitarras em tom de ameaça e ainda assim conquistando os jornalistas. Attack On Memory é o título deste álbum e os Cloud Nothings não poderiam ter escolhido um melhor nome para assinalar não só uma afronta ao espírito da época, como uma transformação de fundo no processo criativo e nas dinâmicas internas da banda. O seminal álbum de 2012 traduz um ponto de viragem no (até então) projeto lo-fi pop-punk de Dylan Baldi. A cave em Cleveland é trocada pelo estúdio Electrical Audio de Steve Albini, em Chicago, e o solipsismo de Turning On (2009) ou Cloud Nothings (2011) dá lugar à banda enquanto experiência comunitária. “Os meus álbuns favoritos são de grupos onde os instrumentistas tocam como eles próprios, mas as suas personalidades conectam-se de maneiras excitantes e criam música que é uma unidade coesa”, partilhou Dylan Baldi à Pitchfork. Attack On Memory credibiliza as suas palavras: o álbum recorre a tradições de nichos (geração DIY da década de oitenta e hardcore de D.C., por exemplo) para honrar a visceralidade e potência instrumental das bandas de guitarras do passado. Por vezes soa a Wipers, na explosividade da sonoridade. Por vezes soa a Surfer Rosa (1988) e In Utero (1993), na bateria realçada na mistura e melodias vocais incisivas. No entanto, nunca deixa de soar a Cloud Nothings enquanto formação clássica de banda rock, às interações entre os membros e fluxo de criatividade que daí provém. Seja no primeiro impacto soturno de “No Future/No Past”, na urgência do pós-hardcore melódico e traços de pós-rock na estrutura épica de “Wasted Days”, no jam de garagem “Separation” ou na ponte shoegaze de “Our Plans”, a imprevisibilidade desta faceta dos Cloud Nothings e o desejo coletivo de unir as suas valências em prol de algo maior nunca deixa de surpreender. A música cresce com os artistas, a inquietação existencial vem ao de cima e o desagrado com a estagnação chega-nos a bordo dos gritos catárticos e da instrumentação pujante. Pode ser que no verso “I thought I would be more than this”, clamado repetidamente durante a coda de “Wasted Days”, detetemos desorientação na voz de Dylan Baldi. Mas também a ânsia por algo supremo, superior à soma das partes, e a consciência de que a resposta (ou o contacto com novas e pertinentes questões) estará no conceito de banda enquanto corpo social. (Diogo Álvares Pereira)
3. Sun Kil Moon, Benji (2014)

Ao longo de três décadas, a carreira do cantautor Mark Kozelek e a sua visão artística (mais especificamente, a abordagem vocal) experienciaram drásticas transformações de forma: fruto da idade, da vivência adquirida ou até mesmo da repulsa por uma comunidade cegamente guiada por objectivos de maior e parcialidade tóxica. Todavia, se a um certo ponto o talentoso poeta dos Red House Painters optou por trocar a subtileza dos seus versos por um estilo mais frontal, sem meias medidas e ocasionalmente hostil, os tópicos de interesse permaneceram imóveis, movimentando-se o artista em seu torno: a existência guiada pela dor; o sofrimento confrontado pelo hedonismo; o meio-termo entre ambas as direções, bem representativo do autor e da paixão que nutre pela vida. Benji é o seu documento absoluto. Realista, modesto e, acima de tudo, tocante. Um dos maiores romancistas da década a dignificar a sua tão ínfima, tão preciosa jornada, a espelhar o nosso próprio trilho nas suas palavras e, sem sombra de dúvida, a suceder. O sexto álbum de estúdio de Sun Kil Moon assinala o reconhecimento de um irrefreável afastamento do berço rumo ao caixão, a confrontação do tão temido fatum e, em última instância, a perceção de que a imortalidade se encontra ao alcance de qualquer um: nos hábitos que difundimos, nas histórias que partilhamos, nos momentos que dividimos. Benji reduz a complexidade da vida a breves vinhetas e narrativas entrelaçadas. Paradoxalmente, exterioriza toda a sua magnitude no delicado dedilhar da guitarra acústica (também ela tratada como uma velha companheira por Mark Kozelek), na entoação saudosa e extenuada, nos fugazes tributos a bons amigos, familiares e desconhecidos. A desventurada Carissa e os parentes que deixou para trás; Patricia – o seu primeiro amor – e os romances que se seguiram; os acarinhados progenitores; o comparsa e colega de profissão Ben Gibbard. Mark Kozelek exprime a sua genuína estima por todos estes seres-humanos; tal como ele, triviais peregrinos do universo. Exalando vitalidade pelos poros ou reduzidos a implacável poeira, todos estes personagens equivalem a gravuras no coração do cantautor: “She was only my second cousin but it don’t mean that I’m not here for her or that I wasn’t meant to give her life poetry, make sure her name is known across every city”. E se a comunicação social nos deu a conhecer um Mark Kozelek misógino, arrogante e narcisista (não colocando em causa a veracidade dos cabeçalhos, é igualmente vergonhosa a reavaliação dos seus trabalhos pós-Benji, constantemente alicerçada em agendas políticas e marketing venenoso), Benji expõe o lado humanista de Sun Kil Moon. A outra face da mesma moeda. Nem o mundo nem o indivíduo devem ser pintados a preto-e-branco, estereotipados, sintetizados. Nunca nos poderemos desprender da narrativa que criamos, pois mergulharemos de imediato numa versão paralela da mesma história. Benji é uma lição sobre a vida e a morte, a arte de relatar acontecimentos e o papel da comunidade na experiência particular. Tão maior que o universo, tão maior que todos nós. (Diogo Álvares Pereira)
2. Nick Cave & The Bad Seeds, Skeleton Tree (2016)

Se alguém desde bem cedo nos habituou a, com ele, explorar o lado negro do ser humano, é Nick Cave. Tornou-se, diríamos mesmo, um ícone inquestionável nessa matéria, independentemente dos moods formais que foi abraçando e desenvolvendo ao longo da sua riquíssima e singular carreira. Proveniente duma fértil casta pós-punk australiana, Nick Cave e os seus Bad Seeds nunca pararam de enriquecer os géneros noisy, garage, rock, romantic-blues, indie, pós-punk, cabaret, soundtrack (com Warren Elis) e muito em especial algumas das mais belas amadas canções indie, tendo até significativamente lecionado a cadeira “The Art of the Love Song” na Universidade de Londres. Skeleton Tree (2016) pertence à genial trilogia encerrada com o seu mais recente e duplo Ghosteen (2019), da qual faz também parte o belíssimo Push the Sky Away (2013). Se SkeletonTree já se adivinhava ao nível do seu anterior álbum – alto portanto -, pelas piores razões viria a resultar na sua obra prima da década. A terrível morte do filho de 15 anos Arthur Cave, vítima de queda num abismo, enquanto decorriam as gravações do álbum, mergulhou Cave num doloroso processo de introspeção e natural desgosto, bem refletido no menos romântico e dramático e mais ambiental, melodioso e quase recitativo dos seus álbuns: “You fell from the sky/Crash landed in a field” (“Jesus Alone”). Exposto a esta dura prova, o talento de Cave parece atingir um auge, a sua fluência poética e honestidade literária a par da sua capacidade e presença cinemática, mesmo suportado num pouco habitual minimalismo instrumental, transformam Skeleton Tree numa das mais belas e emocionais cerimónias musicais, de alguém que luta e tenta encontrar sentido na devastação e tragédia, procurando a força para continuar. Uma das obras primas do século, por um dos melhores músicos contemporâneos. (Rui Ribeiro)
1. Mount Eerie, A Crow Looked At Me (2017)

Não deixa de ser irónico que o melhor álbum da década não possa ser ouvido muitas vezes. Mas se a forma de arte aqui em jogo se distingue pelo veio documental inerente à gravação então A Crow Looked At Me é, inevitavelmente, um dos seus exemplos perfeitos. É sempre ilusória a tentativa de oferecer um pedaço da realidade, nu e cru, sem a mediação de um olhar, sem o artifício do artefacto. Mas é também verdade que a morte é o silêncio absoluto, um buraco negro que engole tudo sem nada devolver, triturando as tentativas de a assimilar, compreender e aceitar. A conversa é tagarelice, a retórica soçobra, o engenho insulta: “When death enters the house all poetry is dumb”. E embora limite inatingível, este adágio com que Phil Elverum abre o álbum tornou-se princípio de construção, revelando a poesia do prosaico, a força do relato impassível dos factos observados, o poder do silêncio e dos mínimos musicais que com ele contrastam. Tão bem funcionou que implodiu, e agora ninguém consegue regressar ao disco, ecoando em si ainda, lancinante, a ferida alheia. Ao tirar dos diários as palavras com que procurara dizer e documentar a experiência da doença e do desaparecimento da mulher, ao tocar em casa a música que era possível sem acordar a filha de seis meses, ao registar tudo o que emergira em si durante o tempo da batalha, desde o horror do desfazer-se do corpo amado até ao latejar de uma inominável saudade, Phil Elverum cristalizou para sempre as circunstâncias e devastação do dado absurdo da morte, enquanto ela acontecia a alguém: “Conceptual emptiness was cool to talk about/ Back before I knew my way around these hospitals”. Longe vai a adolescência com o seu abstrato filosofar e, no meio da dor e solidão, a única companhia é a daquela nostalgia que desde sempre se fez e faz ouvir na distância, convertendo todo o terramoto num passo de um enigmático caminho: “I’m an arrow now, mid-air”. (Maria Pacheco de Amorim)



